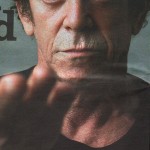cultura >> sexta-feira >> 16.04.1993
DESTAQUE
A Rapariga Com Olhos De Caleidoscópio
“Imagine-se no interior de um barco, num rio, entre árvores de tangerina e céus de marmelada.” É assim que começa a canção dos Beatles, “Lucy in the sky with diamonds”, LSD, se a reduzirmos às iniciais do título. É do lado solar, caleidoscópico, do psicadelismo e da experiência com o ácido que marcaram os sonhos da geração de 60. A “trip” chegou ao fim em 1969. Na espiral de violência desencadeada pelos anjos do inferno, em Altmont. A viagem do submarino amarelo terminava em tragédia. Os Rolling Stones tinham-se apropriado dos comandos.

“Lucy in the sky with diamonds” do monumento “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” fazia a apologia subliminar do ácido lisérgico, mais conhecido pela designação cabalística de LSD-25. Um filme de desenhos animados deu a conhecer, de forma bem mais explícita, a estrutura e lógica internas da viagem proporcionada pelo ácido – “Yellow Submarine”. O submarino amarelo, (o comprimido ou a minúscula “fita” que se engolia) veículo por excelência da viagem através das profundezas aquáticas, da água, que por sua vez é a imagem metafórica do Inconsciente. O filme de Richard Lester, protagonizado pelos bonecos animados dos “fabulous four” de Liverpool é a descrição ilustrada de uma (boa) viagem de LSD. Como o era, de resto, outra canção de “Sgt. Peppers”, “A Day in the life”, que remete para um “flashback” da mesma substância.
Mas se os Beatles personalizaram a “trip” em classe turística, os Rolling Stones não hesitaram em assumir o outro lado da viagem, a “bad trip”, descida aos infernos da mente, no álbum “Their Satanic Majesties Request”, reverso, não menos colorido, de “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”.
A Grande Alucinação
Tudo começou na margem ocidental do Atlântico, na Califórnia, sob a jurisdição do guru e teórico do LSD, Timothy Leary e a influência das leituras do argonauta do Inconsciente colectivo (ultraconsciente, durante o “passeio”…), Carl Jung, e dos papas da antipsiquiatria, Ronald Young e David Cooper, ou dos poetas da “beat generation”, Jack Kerouac e Allen Ginsberg.
Grupos que então despontavam na área de São Francisco – Grateful Dead, Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service, Youngbloods -, embarcaram na viagem do psicadelismo e inventaram um nome novo para o Rock, o “acid rock”. Movimento que, entre outras facetas, se caracterizava por uma concepção alargada do tempo. A regra dos três minutos que era quanto bastava a Presley para derreter os corações dos adolescentes de uma América ainda combalida do pós-guerra, foi trocada por longas “jam sessions” de trinta e tal minutos com solos intermináveis que exploravam ao máximo a panóplia de efeitos electrónicos que, em paralelo, foram sendo deenvolvidos pela indústria. Viajava-se por dentro do cérebro e pelo interior dos sons. Os longos solos carregados de “feedback”, “wah-wah”, “fuzz” e reverberações eram insuportáveis para os “straight” e o paraíso para os “freaks” que se deixavam ficar pela relva, entre flores, incenso e odor a “patchouli”, num dos muitos “free festivals” de “acid rock” que então se realizavam. Eram os “hippies”, tão coloridos quanto inofensivos.
Se a viagem implicava os seus perigos para quem ousasse empreendê-la, o poder – após o assassinato de Kennedy, nas mãos da administração de Lyndon Johnson – via nela um perigo de outra ordem, a subversão. A ameaça vinha de jovens malditos que tibveram a ousadia de trazer a experiência alucinogénica para um contexto político. Os verdadeiros arautos da revolução, fruto da nova tomada de consciência. Jim Morrison, Jimi Hendrix e Janis Joplin, enquanto não sobreveio a “overdose”, puseram com ferocidade o dedo nas chagas de uma nação mal sarada do pesadelo chamado Coreia e nessa época de novo perdida nas selvas asiáticas, desta feita no Vietname.
Durante o mítico festival de Woodstock, Country Joe McDonald perguntava a uma multidão de centenas de milhar de jovens “porque é que estamos a combater? Estou-me nas tintas, vamos parar com o Vietname” e Jimi Hendrix despedaçava o hino americano nas notas torturadas da sua Fender Stratocaster, em “Star spangled banner”. Jim Morrison tomava-se por um xamã portador de uma mensagem sobrenatural. Em “The End” proclamava o assassinato parental e o incesto. Janis Joplin gritava como um anjo possesso e deixava-se morrer. Ainda por cima, a esquizofrenia, dissera-o Laing, deixara de ser considerada uma doença, passando a ser sinónimo de diferença. O LSD-25 abria as portas, todas as portas, da percepção, mostrando de igual modo o rosto luminoso, nirvânico, e a máscara sombria, luciferina, da mente humana. No mesmo ano de Woodstock, no tristemente célebre Festival de Altamont, um grupo de “hell’s angels” assassinou uma rapariga durante a actuação dos Rollng Stones. O sonho “hippie” caiu por terra nesse momento.
A experiência do LSD foi sem dúvida importante na descoberta de novas estéticas e formas de enunciação da música “rock”. À pesquisa interior correspondeu a procura de sonoridades e exotismos de várias proveniências. O Oriente, como não podia deixar de ser, invadiu as cabeças abertas pelo ácido, trazendo consigo as suas “drones” indutoras de estados hipnóticos ou de transe e as suas escalas micro-tonais, mais facilmente perceptíveis debaixo do efeito das drogas alucinogénicas. Não havia um álbum de música psicadélica digna desse nome que não ostentasse na ficha técnica a referência a uma “sitar” indiana. O próprio Ravi Shankar dava lições aos Beatles e assinava em Woodstock uma actuação memorável. Fenómeno de universalização que, em paralelo, permitiu a emerg~encia, nos moldes da época, da corrente “folk” que de algum modo fez figura de acessório naturalista do psicadelismo. Os Byrds voavam “8 miles high”, a 8 milhas de altura.
Um Ácido No Chá
A resposta dos ingleses às visões lisérgicas foi dada de forma civilizada. Tomaram a pastilha de LSD mas, de preferência, à hora do chá. Fizeram-no com mais método e cuidado do que os seus vizinhos americanos. Por este motivo dispensaram-se de afixar uma lista de mártires e conseguiram melhores aplicações da substância, no campo musical.
O psicadelismo em Inglaterra foi liderado por duas bandas principais: Pink Floyd e Soft Machine. Nos segundos militou um “freak”, que por acaso era australiano, Daevid Allen, ao qual se deve, já no seio de outro grupo (os Gong) a criação da mitologia, menos acídula e mais alimentada a erva, dos “por head pixies”, onde se misturavam bules voadores, a filosofia oriental, retretes públicas e a cidade do centro do mundo, Shamballah.
Quanto aos Pink Floyd podem orgulhar-se de ter dado guarida ao maior consumidor de ácido de todos os tempos, Syd Barrett. Nos escassos anos em que conseguiu manter a cabeça à tona de água, Barrett assinou uma das obras-primas da música psicadélica, “The Piper at the Gates of Dawn”. Depois passou-se, começou a ver insectos, fez o circuito dos hospitais psiquiátricos e finalmente correu para debaixo das saias da mãe. O ácido tem destes efeitos secundários… Nunca há a certeza de se ter adquirido o bilhete de ida e volta.
Houve outra gente armada em viajante. Mais para se dar ares, sem arriscar a descida às profundidades, do que para forçar as portas da percepção de que falava Aldous Huxley. A descoberta do sintetizador, por Robert Moog, permitia todo o tipo de explorações musicais sem o recurso aos químicos. Os Moody Blues eram mais LSO (London Symphony Orchestra) que LSD. Os Hawkwind, influenciados pelo autor de ficção científica Micahel Moorcock, rabiscaram a “trip” electro-cósmica em “In Search of Space”, levada às últimas consequências no início da década de 70 pelos alemães planantes do “Cosmic Rock”: Tangerine Dream, Klaus Schulze, Ash Ra Tempel.
David Bowie, entre o retoque da maquilhagem e uma troca de bestido, homenageava Timothy Leary na faixa do mesmo nome incluída em “Hunky Dory”. Tina Turner encarnava uma “acid queen” na mixórdia “Tommy”, realizada por Ken Russell (mais tarde o mesmo realizador apresentaria a sua “trip” de pacotilha: “Altered States”). Há também quem veja na estrutura de “The Lamb Lies Down On Broadway”, dos Genesis, uma bem camuflada viagem de ácido (como o era, sem subterfúgios, o tema “Supper’s ready”, de Foxtrot”). Os Incredible String Band misturavam culturas e instrumentos do mundo numa síntese particular de psicadelismo “folk” de ressonâncias célticas.
Os Diamantes Não São Eternos
Os anos 70 assistiram a uma tentativa fugaz de recuperação da atitude e das sonoridades psicadélicas mas o movimento teve o sabor de revivalismo. Aproveitaram-se a boa música dos Echo & The Bunnymen e sobretudo a loucura, um pouco passadista, dos Teardrop Explodes e do seu líder Julian Cope que até hoje tem aguentado estoicamente e com bons resultados musicais uma dieta bem fornecida de ácidos.
O resto da Europa apanhou as vibrações remanescentes da contra-cultura “hippie” do LSD. Os franceses, bem ao seu estilo, intelectualizaram o que por essência pertencia ao domínio das pulsões. Cyrille Verdeaux escreveu em 1975 uma “Clearlight Symphony”, (Clearlight designa uma variante do LSD, como Purple haze ou Endopan…), de colaboração com alguns foragidos dos Gong. Pierre Henry trouxe a experiência psicadélica electro-acústica, ligando os eléctrodos de um aparelho concebido para o efeito à sua própria cabeça, de modo a traduzir directamente para som os impulsos nervosos do cérebro, em “Cortical Art III”. O resultado sonoro fez, na altura, temer pela sua sanidade mental. Em Portugal, os heroicos cultores da alucinação lisérgica contam-se pelos dedos. Tivemos os desatinos de Frodo, aliás Manuel Cardoso, nos exercícios Tantra de “Mistérios e Maravilhas” e Jorge Palma com “Uma Viagem na Palma da Mão”.
Mas a última palavra sobre os efeitos do LSD na criação artística talvez tenha sido proferida pelo músico e poeta inglês que ao longo de três décadas mais profundamente viajou pelos círculos concêntricos da individualidade – Peter Hammill. No tema “Chemical world”, do álbum “The Quiet Zone, the Pleasure Dome” cantava: “Procuras o Santo Graal, mas não o vais encontrar no mundo químico. Desde o momento em que os acolhes, os diamantes transformam-se em imitações. Há-de explodir tudo na tua cara. É só o tempo, tão lento a passar. É só a droga, não vai durar.” Os mesmos diamantes de Lucy, “a rapariga com os olhos de caleidoscópio”.