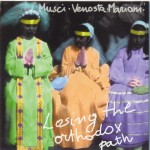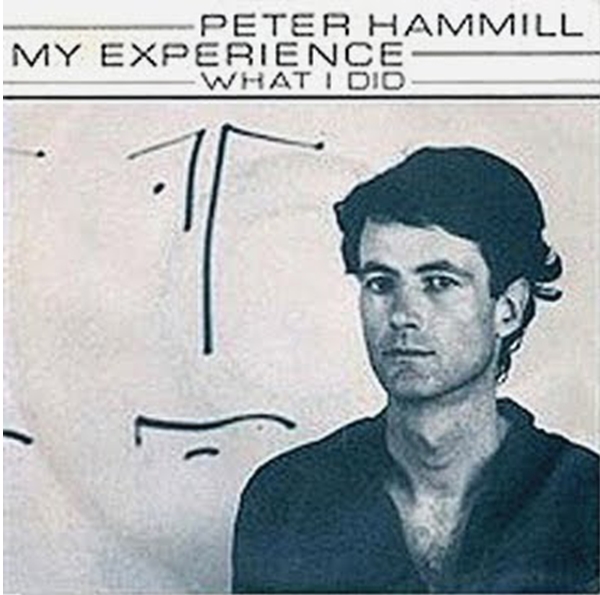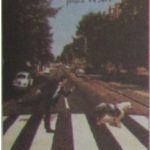BLITZ 5 DEZEMBRO 1989 >> Ao Vivo
MADREDEUS
A ETERNIDADE SUSPENSA
Chovia. Chovia muito. (É já um lugar-comum começar um artigo desta maneira, mas chovia de facto muito nessa noite). Atravessei o mais rapidamente que pude a alameda enlameada e entrei na Gulbenkian dos pobres. Cheguei atrasado (maldita chuva). Como a sala estava cheia fui obrigado a ficar de pé. Paciência.
Apenas consegui escutar os dois temas finais da dupla Carlos Maria Trindade/Nuno Canavarro. Um em frente ao outro, no palco, lembrando a postura inicial do então duo Kraftwerk. Uma panóplia de teclados e um computador feericamente iluminado davam o conveniente ar «High-Tech» ao acontecimento. No intervalo contaram que a coisa foi chata. Pela amostra, não achei nada. Pelo menos, os dois referidos temas mostraram como utilizar a tecnologia eletrónica mais sofisticada com óptimos resultados. Os dois músicos completaram-se na perfeição soando a música à escola japonesa da ala Isao Tomita (na faceta mais clássica) ou a Masahide Sakuma (nos arrojos mais experimentalistas). O lirismo digital foi uma constante. Final apoteótico com o público de pé pedindo bis e os músicos a não corresponderem ao pedido. Guardado estava o pedaço para o que haveria de vir.
Intervalo e os encontros e conversas do costume. «Então, gostaste?» e o «nem por isso» blasé do costume mesmo que se tenha adorado. Um bar miserável funcionando ao mesmo tempo como bengaleiro, provido unicamente de «Sagres» e Coca-colas de litro, não convidava a grandes libações. Cumpridos os rituais sociais com colegas de ofício, amigos ou simples conhecidos destas ocasiões, chegou finalmente o momento ansiado por todos.
Os Madredeus entraram em palco e tinham vencido mesmo antes de tocarem uma única nota. Saudação monumental. Teresa Salgueiro, a diva de vestes e pose fadista (mantidos ao longo de toda a sua irrepreensível atuação), foi recebida em delírio com gritos e alguns piropos. Percebi imediatamente que os milhares de pessoas que apinhavam a sala eram todos amigos íntimos da cantora. Senti-me tímido e deslocado, eu que nunca tivera a oportunidade de trocar qualquer palavra com a senhora. Encolhi-me o mais que pude na cadeira embora nesse momento continuasse de pé.
Os músicos dispuseram-se em concha sobre o palco. Da esquerda para a direita, descrevendo um arco: Rodrigo Leão, nos teclados, Gabriel Gomes no violoncelo, Pedro Ayres na guitarra acústica e Francisco Ribeiro no acordeão. Ao centro, no meio da concha, a pérola, A voz. Depois, bem, depois foram o silêncio, as palavras, a música e o Sentimento de uma portucalidade antiga vivida e encenada por cinco jovens da grande cidade.
Os Madredeus tocam fado de câmara. Do fado, para além das evidentes entoações vocais de Teresa Salgueiro, retêm o sentido trágico, a profundidade comovida e a Saudade. Da música de câmara, o intimismo e a conceção instrumental. Ou então falemos de música tradicional no seu sentido mais lato e profundo. Entre o granito e as estrelas, Passado e Futuro são saudosamente festejados ou sofridos na Cruz do Presente. Tocaram cerca de vinte temas, poderiam ter sido mais outros tantos ou só um. No tempo da Madre Deus, cantou-se, tocou-se e bailou-se por dentro, fora do Tempo. Apenas um momento da eternidade suspenso na voz infinita de Teresa, nos abismos escuros e solenes do violoncelo de Gabriel, na câmara e salões palacianos dos teclados de Rodrigo, nas cintilações e sorrisos tristes da guitarra de Pedro, nas danças e nas aldeias presentes no acordeão de Francisco. Tocaram temas do seu magnífico duplo-álbum de estreia, com novos e inspirados arranjos.
Quase se torna supérfluo dizê-lo: todos os presentes, cada um à sua maneira, viveram e participaram nesta cerimónia celebrada em noite de chuva. Sim, chovia. Chovia muito. Lá fora ou talvez ainda mais para alguns por dentro. Não se sabia, mas é assim: na Felicidade confundem-se e coincidem Tristeza e Alegria. Ri-se de tristeza e chora-se de alegria. O que é então a música? O que é a Felicidade? Minha Mãe, meu Deus, quando eu era pequenino…