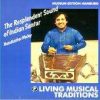pop rock >> quarta-feira >> 26.10.1994
A Margem De Certa Maneira
Cada uma à sua maneira desafia as convenções. Numa América do Norte puritana, onde cada vez mais os valores que se impõem correspondem ao gosto massificador do mercado e dos tops, quatro mulheres prosseguem sem desvios pelo seu próprio caminho. Duas veteranas, Joni Mitchell e Laurie Anderson, uma jovem, Liz Phair, e outra com aquela idade que não tem idade, Madonna, atraem a atenção, provocam controvérsia e põem o dedo nas feridas. De certa forma, poderíamos considera-las as ovelhas negras do rebanho, não fora o caso delas nem sequer fazerem parte do rebanho.
As armas que usam são diferentes. Laurie Anderson utiliza o intelecto. Madonna, o sexo. Liz Phair, o coração. Joni Mitchell, a intimidade com a “vida real”. Contudo, outras combinações são permitidas. Muita coisa as separa, mas uma coisa as une: a crítica À sociedade em que vivem. Mordaz, no caso de Mitchell. Elíptica, no caso de Anderson. Cínica, no caso de Madonna. Com a emoção à flor da pele, no caso de Liz Phair.
Duas cores e duas tonalidades, em dois pares de opostos, podem servir para caracterizar os seus novos trabalhos, editados quase em simultâneo no nosso país. Vermelho néon da distanciação para Laurie Anderson, em oposição ao vermelho sangue da violência epidérmica demonstrada por Liz Phair. Azul nocturno de um olhar atento e cruel, para Joni Mitchell, em oposição ao azul bebé do romantismo reencontrado por Madonna. Joni Mitchell, Laurie Anderson, Liz Phair e Madonna são “marginais” de um modo pessoal e intransmissível. Incomodam, é certo, mas também seduzem.

Laurie Anderson
Bright Red (7)
Warner Bros., distri Warner Music
Como refere a articulista Fietta Jarque no “El Pais”, “Laurie Anderson despojou a voz da sua aura romântica para a converter na nua corda sonora da inteligência”. Como um sensor, uma célula fotoeléctrica, a voz da autora de “O superman” observa e decompõe a realidade sem nela intervir de forma directa. Laurie Anderson é, na essência, uma contadora de histórias. “A forma de arte mais antiga”, como ela própria refere. Histórias parte das quais (bíblicas, como a da arca de Noé, que Laurie Anderson desmonta) são contadas no livro “Stories from the Nerbe Bible”, lançado em simultâneo com o álbum.
Mas Laurie Anderson é uma contadora de histórias diferente. A voz é, no seu caso, o meio e, em última análise, o fim. “A linguagem é um vírus”, não o esqueçamos. Laurie Anderson compara “Bright Red” com o “O Último Ano em Marienbad”, enigmático filme de Alain Resnais, pela idêntica estrutura em forma de diálogo: “ele diz”, “ela responde”. A artista dialoga com o seu duplo masculino, com a sua própria voz descida alguns tons até se transformar na voz de um homem, a “voz da autoridade”. “Bright Red” é um discurso electrónico sobre os temas do amor e da destruição. Ao contrário do anterior “Strange Angels”, que tinha um formato mais clássico, de “álbum pop”, o novo “Bright Red” regressa às premissas minimalistas de “Big Science”, “Mr. Heartbreak” e “Home of the Brave”. Vozes, palavras, ideias recortadas dos sonhos ou do quotidiano (no fundo, apenas outro sonho, ou pesadelo) sobre múltiplas manipulações electrónicas.
Ultrapassado porém o impacte sonoro inicial, “Bright Red” pouco ou nada adianta em relação aos anteriores trabalhos da compositora. Mudou, é certo, o produtor, e neste particular a escolha de Brian Eno, igualmente responsável pelos arranjos e misturas, revelou-se acertada. Mas Eno transformou o invólucro, não a identidade da música. As percussões subiram de tom, o acordeão de Guy Klucevsek, as presenças “duras” de Arto Lindsay, Marc Ribot e Peter Scherer ou a participação vocal de Lou Reed em “In our sleep” trouxeram uma nota de diferença, mas no essencial tudo permanece na mesma, o que acaba de certa forma por desiludir, em comparação com a ousadia do golpe de rins de “Strange Angels”.
Em suma, se na generalidade a produção consegue suscitar interesse, do tipo “deixa adivinhar que som vem a seguir”, isso não chega para disfarçar a monotonia que em certos momentos acompanha a audição de “Bright Red”.

(escrito por Jorge Dias)

Joni Mitchell
Turbulent Indigo (8)
Arista, distri. Warner Music
A violência e os maus tratos físicos nas relações conjugais, a reclusão e os trabalhos forçados impostos às mulheres irlandesas pela igreja católica, no final dos anos 80 (em “The Magdalene laundries”, um tema que parece ter incomodado os Chieftains ao ponto de terem posto a hipótese de recusar tocá-lo num espectáculo com a cantora), o caos, a solidão, o consumismo e a loucura – uma loucura “fria”, em tons do tal azul indigo, ilustrada em paralelo pela série de pinturas da autoria da cantora (entre as quais, o auto-retrato aqui reproduzido, “pastiches” estilo Van Gogh) – da sociedade norte-americana actual são alguns dos temas abordados em “Turbulent Indigo”.
A esta fixação na “vida real” (conceito cada vez mais fluido nas suas significações e implicações) responde a música com a complexidade, ultrapassada que parece estar a fase recente voltada para a pop mais acessível dos álbuns “Wild Things Run Fast”, “Dog Eat Dog” e “Chalk Mark in a Storm” (os dois últimos talvez os seus discos mais fracos de sempre), processo, de resto, encetado no anterior “Night Ride Home”. Complexidade que se manifesta, sobretudo, ao nível das vocalizações, com as suas intricadas progressões harmónicas, numa exigência de diversidade e exploração que, inclusive, se traduziu no número de afinações que a cantora até agora já experimentou na guitarra, nada mais nada menos que cerca de cinquenta.
Não espanta, por isso, que Joni Mitchell tenha, a partir de certa altura, procurado prioritariamente em músicos de jazz acompanhantes à altura. Eis o que de novo acontece em “Turbulent Indigo”, com as presenças dos já habituais Wayne Shorter, saxofonista dos Weather Report, Larry Klein no baixo e Jim Altner na bateria. Mitchell encontrou a liberdade total. Livre de constrangimentos ou do arbítrio de tonalidade e compassos fixos, a voz libertou-se em definitivo deste tipo de espartilhos, parecendo cada vez mais coincidir com os ritmos e entoações próprios da oralidade.
As canções ganharam, assim, uma naturalidade e uma respiração com maior amplitude, a par da sensualidade e do requinte que sempre caracterizaram esta voz que a passagem do tempo agarrou com um manto de seda dourada. Apenas alguns reparos, subjectivos, para “How do you stop”, popularizada por James Brown – a canção mais comercial de “Turbulent Indigo”, que, nesta versão, provavelmente destinada a ser editada em “single”, conta com o apoio vocal de Seal, a ir um pouco contra a corrente do resto do álbum. Porto de Abrigo entre uma turbulência que se pode sentir no azul mais profundo da alma.

Liz Phair
Whip-Smart (9)
Matador, distri. Warner Music
O novo álbum de Liz Phair, depois da estreia “Exile in Guyville”, faz acreditar que a música rock está longe de se poder considerar um filão esgotado e que as mulheres conduzem, de facto, o processo da sua renovação. O que sobressai logo após a primeira audição é que a voz de Liz nem sequer é aquilo que se pode considerar uma grande voz. São, antes, a maneira como canta, a visceralidade e a emoção vulcânica que se desprendem das canções que fazem de “Whip-Smart” um dos grandes discos deste ano. Liz Phair conversa, sussurra, revela-se, num contraste por vezes violento entre a aparente serenidade da voz e a violência magmática do acompanhamento instrumental.
A produção e os arranjos reforçam esta característica, ao valorizarem um som frontal e rude mas atento aos pormenores, de maneira a colocar em evidência a coesão do som do grupo, o mesmo de “Exile in Guyland”, constituído por Brad Wood, Casey Rice e Leroy Bach. É o deitar fora das máscaras e da maquilhagem, com o acento na sofisticação na própria essência da música e não, como tantas vezes acontece, no espalhafato permitido pelo estúdio. A esta notável economia de meios, onde a voz e cada instrumento (as guitarras ora ternas, ora sulfúricas, um sintetizador, um piano coloquial, uma bateria com tanto de poderoso como de transparente) têm a precisão de uma arma que dispara ou de um beijo abrasivo, correspondem a uma riqueza harmónica e uma originalidade que, neste ano, em trabalhos vindos de outras “novas” compositoras-intérpretes, apenas encontram paralelo em “Martinis & Bikinis”, de Sam Phillips, e “Happiness”, de Lisa Germano. Canções como “X-rated man”, “Shane”, “Dogs of LA”, “Jealousy” e “Crater lake” transbordam de ideias e são do topo de onde parece ser possível extrair melodias diferentes de cada acorde.
“Whip-Smart” é ainda um álbum que não esconde o seu amor pelo passado do rock, dos Velvets à “surf-music” (submetida a um trabalho de virulência e corrosão, no título-tema) o que lhe confere uma aura de solidez e classicismo.
Liz Phair limita-se, no fundo, a fazer o mesmo que muitos outros artistas: falar de si própria e da sociedade que a rodeia. A diferença está em que o faz de tal forma e com uma força, intensidade e personalização tais que desde logo colocam “Whip-Smart” no grupo dos álbuns de excepção. Um disco para escutar vezes sem conta. Daqueles que nunca mais se esquecem.