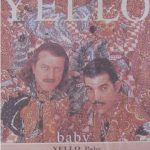Pop Rock
29 JANEIRO 1997
Brasil “sensual” de Ryuichi Sakamoto
“UM BEIJO NO RIO”
“Sensual”é o termo que Ryuichi Sakamoto utiliza para descrever o seu último álbum, “Smoochy”. As influências vão de Visconti e Godard a Miles Davis, mas a principal, como no caso de Arto Lindsay, é a música brasileira. O Rio de Janeiro, em versão “trip-hop” de um japonês “agarrado” à tecnologia, mas que receia ser subjugado pelo excesso de informação da Internet.

“Smoochy” é o título do novo álbum do japonês Ryuichi Sakamoto. Influenciado pela música brasileira, prolonga uma tendência já demonstrada anteriormente, quando o antigo elemento dos Yellow Magic Orchestra sugeriu a Arto Lindsay que gravasse um álbum igualmente inspirado nos sons do Brasil. Arto concordou e o resultado foi “O Corpo Sutil” – já recenseado nas páginas deste suplemento –, sobre o qual o americano tece os comentários que podem ser lidos na página mesmo ao lado. Sakamoto produziu ainda a faixa “É preciso perdoar”, com Caetano Veloso e Cesária Évora, para a recente colectânea, “Red, Hot and Rio”.
“Smoochy”, do calão inglês “smooch” (“beijar”), é, nas palavras da editora, um álbum “sensual”, um título bastante apropriado, já que o disco, segundo o seu autor, “foi fortemente influenciada pela música brasileira, cujas melodias tendem para a sensualidade”. O alinhamento compreende 13 temas, nos quais colaboram com o japonês os brasileiros Jaques Morelenbaum, no violoncelo, e Everton Nelson, no violino, que já tinham tocado no álbum do ano passado, “1996”. Amadeo Pace, Arto Lindsay, Yoshiyuki Sahashi, Alexander Sipiagin, Miki Nakatani, Toshikori Mori, Vinicius Cantuária (outro brasileiro, presente em “O Corpo Sutil”), Lawrence Feldman, Vagabond Suzuki, Gil Goldstein e Hiroshi Takano são os restantes músicos convidados de “Smoochy”. O último tema, “Tango”, conta ainda com a participação de Soraya, cantora argentina na berra que preenche regularmente o pequeno ecrã no canal de música mexicano HTV.
Num exclusivo para o PÚBLICO, Ryuichi Sakamoto comentou cada um dos temas de “Smoochy”, explicando previamente as motivações gerais que levaram à sua feitura: “Comecei a escrever as canções para ‘Smoochy’ em Maio de 1995. Afadiguei-me como nunca para compor este álbum. Iniciei o projecto colocando a mim próprio algumas questões que nunca conseguira resolver desde que sou músico: ‘O que é que eu desejo realmente fazer?’, ‘o que é que procuro exprimir quando toco piano?’, ‘por que sinto vontade de escrever novas canções?’, ‘que prazer é que tudo isto me dá?’” Questões pertinentes, sem dúvida, as quais levam a que toda a gente retenha a respiração, na angústia que precede as grandes revelações.
Bom, Sakamoto alivia um pouco a tensão na explicação que dá a seguir: “Após todas estas interrogações pessoais, decidi levar em frente a ideia que já desenvolvera no meu álbum precedente, ‘Sweet Revenge’, isto é, sublinhar a melodia, tendo, desta vez, decidido explorar um pouco mais este potencial. Para isso, tive necessidade de escutar com mais atenção a voz do meu coração…”
Depois, uma espécie de confissão: “Mas, à medida que fazia este álbum, fiquei apanhado pela Internet. Esta interferiu, na medida em que a Internet é um vasto gerador de informação ilimitada. A minha criatividade sentiu-se ameaçada, porque compor é, essencialmente, criar nova informação. Absorver demasiada informação pode constituir um obstáculo para o artista, cuja tarefa é produzir algo de novo. Esta tarefa apela a uma ausência de informação. E a Internet é a antítese disso.”
Faixa a faixa, e apesar da tentação da Internet, o coração de Ryuichi Sakamoto decidiu o seguinte:
“Bibo no aosora”
“Inspirado pelo filme ‘Morte em Veneza’, de Visconti, é uma história acerca da morte, o mar e o céu azul, observados através de óculos com lentes infravermelhas. Mas as principais personagens são femininas, o que difere um pouco da história de Visconti.”
“Aishiteru, aishitenai”
“Põe em destaque a voz de Miki Nakatani, uma actriz japonesa. Após uma entrevista com ela de três horas, colei a sua voz à música. Este processo inspirou-se no processo de montagem utilizado por Jean-Luc Godard nos seus filmes dos anos 60.”
“Bring them home”
“Um ‘requiem’ pelos mortos que invoca uma sensação de profundo desespero. Inspirou-se numa canção muito triste intitulada ‘Five millions dead’.”
“Aoneko no torso”
“Para mim, é uma canção sobre uma sensualidade que não é quente, mas fria.”
“Tango”
“É a história de um homem que foge para a Argentina, depois de ter abandonado a sua terra natal e a sua amante.”
“Insensatez”
“Uma colagem de sons que gravei no Rio de Janeiro. Esta peça também sofreu a influência da obra de Miles Davis nos anos 70.”
“Poesia”
“Os tópicos centrais são o mar, os trópicos, assobiar e o estado de espírito de se estar optimista.”
“Dennogiwa”
“Um conto dos anos 90 sobre o ‘interface’ da ecologia com as redes informáticas.”
“Hemisphere”
“A minha perspectiva sobre uma canção ‘Samba numa nota só’ – a história de um homem que bebe rum todo o dia, sob um sol abrasador, de que se desprende uma sensação de resignação e remorso.”
“Manatsu no yo no ana”
“A primeira canção que escrevi para o álbum. O final é uma interpretação do ar calmo, mas sufocante de Times Square, à meia-noite, que traz à minha cabeça imagens da noite, da lua, da cidade e penumbras azuladas.”
“Rio”
“Outra colagem de sons que gravei no Rio, do mar e miúdos num aeroporto. A melodia principal surgiu, no entanto, quando passeava nas ruas de Nova Iorque de madrugada.”
“A day in the park”
“Desenvolveu-se a partir de uma frase de guitarra de um canção que escrevi para as Geisha Girls, chamada ‘Shonen’. Foi inspirada em manhãs luminosas, em crianças a brincarem no parque, nas suas mães, nos pensamentos dos pais ao compreenderem que os seus filhos um dia os abandonarão. As vozes deste tema pertencem a Vivian Sessoms.”
“Tango (version castellano)”
“Nesta versão, a vocalização é de Soraya.”