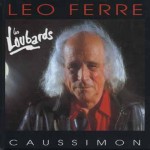cultura >> domingo, 18.07.1993
OBITUÁRIO
Léo Ferré Morre Aos 77 Anos
Amor-Anarquia
“No meu enterro não quero ver mais ninguém senão mortos”, disse uma vez em desafio. Ontem, no dia do seu funeral, talvez a sua vontade não tenha sido respeitada. Polémico e indomável, Léo Ferré, aos 77 anos de idade, partiu por fim para o “mundo perdido” de amor-anarquia que sempre cantou.

Poeta, músico e anarquista, Léo Ferré incarnou a revolta do indivíduo contra os poderes instituídos. As suas armas foram o amor e a anarquia, rosas com espeinhos de dizer a liberdade. Sonho de um “porta-voz de umk mundo perdido”, como se autodefinia.
Léo Ferré nasceu em 1916, no Principado de Mónaco. Começou a sonhar desde muito cedo. Aos quatro anos dirigia orquestras imaginárias. A primeira das quais, o mar. Quando já se fingia de adulto, em 1954, dirigiu a Ópera de Monte Carlo, numa “Symphonie Interrompue” da sua autoria, e uma adaptação musical de Baudelaire. “Le Chanson du Mal Aimé”. Cerca de 20 anos mais tarde, em 1975, voltou a vestir o fraque de maestro na direcção do “Concerto pour la Main Gauche”, de Maurice Ravel, no Palácio dos Congressos de Paris.
Nos tempos de juventude, estudou Direito. Um paradoxo para quem, como Ferrés regras. Da, na e para a poesia. Depois fez as malas e partiu para Paris – a “Paris canaille” de uma das suas canções – para os cabarés de Saint German-des-Près, onde a vida então merecia ser vivida. Aos poucos, foi descobrindo que o amor, melhor dizendo, a paixão, é inseparável da morte. E que as palavras podem ser uma maneira de a vencer. “Não sou violento na vida, sou violento nas palavras”, disse, porque “a poesia não se faz com panfletos, faz-se com as goelas bem abertas e com os verbos habituais, de preferência activos”.
“Amor Louco”
Léo Ferré escolheu cantar as palavras que minavam o senso-comum, o sono, a mediocridade e a subserviência. Sonhou alto canções que abriram as portas e janelas da loucura e do “amor louco” – segundo a expressão de Breton – dos poetas surrealistas: Aragon, Apollinaire, Eluard e Valéry. E dos simbolistas Rimbaud, Verlaine e Baudelaire.
Jacques Prévert entusiasmou-se com as suas canções. André Breton não lhe perdoou a publicação de “Poètes, vos papiers”. Ferré, libertário do sonho, solitário e solidário, sem defesas contra a vida, tinha a visão pura de uma criança e a inquietude de um adolescente a morder-lhe o espírito. O presidente francês François Mitterrand, para quem a morte do cantor significou “a perda de um dos criadores que levaram a canção ao mais alto nível de exigência e qualidade” viu no poeta-cantor “alguém que incarnava uma tradição que, desde a Idade Média, procurou unir a poesia e a música, a ligação da arte com o amor pelo povo”. Jack Lang, ex-ministro francês da Cultura, declarou por seu lado que Léo Ferré simbolizou a “memória das revoltas”, foi o “poeta das esperanças” dos franceses e que jamais será “recuperado pelos poderosos deste mundo”.
Mas se após a sua morte os poderosos se apressaram a ver nele o filho dilecto da doce França republicana, foram igualmente os poderosos – neste caso a sua editora de discos – que nos anos 60 lhe censuraram a canção “Mon général”, porque há coisas onde não se toca… Era incómodo este homem que se vestia de negro, cantava as “Flores do Mal” de Baudelaire, reivindicava de igual modo a esperança e a solidão. E que, numa das suas canções mais conhecidas – “Ni Dieu, ni maître” – proclamava não ter “nem Deus [“O que eu digo é que temos de nos libertar da ideia de Deus, da falsa ideia de Deus, de que os outros se servem para oprimir o próximo! Não há polícia melhor do que as religiões”], nem mestre” [“a posição de Bakunine é uma posição fantástica: é a do assassino, do bandido. Nós somos bandidos e, se isto for considerado um sacrilégio, estou de acordo!”.
O Anarquista De Mercedes
Léo Ferré que actuou na Federação Anarquista e cujas canções – “La Grève”, “Amour anarchie”, “L’été 68” – os estudantes revoltosos agitaram como bandeira no Maio de 68 e que mais tarde, lhe exigiram “música gratuita”, acusando-o de “anarquista de Rolls Royce”. A ele, que sempre preferiu o Mercedes. Yves Montand telefonou-lhe, certa vez, para lhe chamar “fascista vermelho”.
O mesmo Léo Ferré, polémico, incatalogável e indomável, que exigia um preço baixo para os bilhetes dos seus concertos, mas que declarava em tom de provocação: “Tenho dinheiro, é verdade. E depois? Vou ter de descer à rua para o distribuir? Porque sou um anarquista? Uma coisa não tem nada a ver com a outra e qualquer dia tudo isso há-de ser explicado.”
Uma das suas canções tinha por título “o anarquista de luxo”.
Vivendo em contramão Léo Ferré adoptou nos anos 70 a linguagem do rock progressivo, numa colaboração com o grupo Zoo, e elogiou publicamente um “clip” de Mick Jagger, partindo depois para o seu retiro em Itália, em Castellina, onde viveu durante os últimos 25 anos, na companhia da mulher, italiana, e dos seus três filhos. E onde morreu no passado dia 14, vítima de doença prolongada.
Na década de 80 actuou no Teatro Libertário de Paris e gravou os álbuns “Loubards”, “On n’est pas Sérieux quando on a Dix-Sept Ans” e “Les Vieux Copains”, este último já de 1990. Ferré actuou por diversas vezes em Portugal, depois do 25 de Abril, cantando em “A mon Enterrement” que no seu enterro não queria “ver mais ninguém senão mortos”. Preparava o espectáculo de consagração que nunca teve, no Grand Rex, quando a morte o levou.
Numa ocasião, em palco, Léo Ferré contou que recebeu uma chamada telefónica e uma voz lhe disse: “Alô, sou a morte, gosto bastante do que você faz.” Resposta do cantor: “Eu também!”
CAIXA
15 Quilos De Poesia
Quando a magia do verbo se une à poesia do traço e das cores, a arte torna-se uma emoção fora do comum. É o que sucede com a excepcional colecção que um pequeno editor decidiu consagrar à poesia de Léo Ferré.
Dirigida por André Philippe, a Grésivaudan publicou a poesia do cantor em cinco volumes, cada um deles ilustrado por dez litografias em página dupla e desenhos originais do pintor Jacques Pecnard, pesando o conjunto 15 quilos.
Esta obra poéticfa engendrou uma obra-prima da bibliofilia. Léo Ferré aplicara-se no trabalho de impressão, colaborando na paginação, escolhendo, inclusive, o tipo de letra, o Baskerville. Antes, porém, o editor terá precisado de seis anos para convencer Feré a publicar os seus poemas.
Depois, forma mais três anos de trabalho. Mas André Philippe estava longe de ser um novato, tendo já editado André Gide, Jean Giono, Guy de Maupassant, Jules Renard, Edmond Rostand, Paul Valéry, Georges Brassens e Jacques Brel. Fundou a Grésivaudan em 1968, após ter descoberto o universo dos livros, que começou por vender porta a porta.
Quanto ao pintor Jacques Pecnard, trabalhou para as maiores editoras (Flammarion, Larousse) e durante vinte anos colaborou no “France Soir”. Galardoado, em 1971, com o Grande Prémio dos Ilustradores de imprensa, tem exposto não só em Paris, como nos Estados Unidos e Japão.
Em Março de 1984, a Ulmeiro editou em Portugal a obra “Léo Ferré”, com uma primeira tiragem de 5200 exemplares. A selecção e tradução de poemas e canções foram de Luiza Neto Jorge, enquanto a coordenação e a tradução de outros textos pertenceram a Manuel João Gomes.