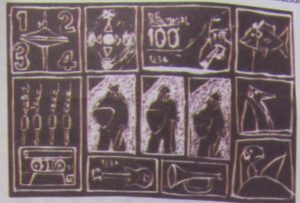BLITZ 17 OUTUBRO 1989
OBLIQUIDADES
O concerto dos Duplex Longa/Criterium, designado «Projetos Oblíquos», foi a primeira de uma série de iniciativas que o Instituto Franco-Português se propõe levar a cabo nos tempos mais próximos, visando a divulgação das propostas mais recentes e inovadoras da música moderna portuguesa.
Este primeiro espetáculo saldou-se por um semi-êxito. O público afluiu em número razoável. O som estava bom. Os atrasos de horário não foram exasperantes. Em termos exclusivamente musicais é que deixou muito a desejar. Para a maioria dos presentes não foi esse o caso, o mesmo é dizer que o público gostou, aplaudiu delirantemente sobretudo os Duplex Longa, grupo sobre o qual recaíam as maiores expetativas. Esta discrepância assenta numa série de equívocos que procurarei esclarecer.
Relatemos então o que se passou. Os Duplex Longa são dois, melhor, três, se contarmos com o computador de ritmos, disposto no centro do palco, comandando quase sempre as operações. Os dois humanos são Carlos Raimundo, no baixo, e Mário Resende, no violino, tendo ambos a seu cargo as programações rítmicas. O grupo vinha referenciado como praticante de um som fazendo a ponte entre os Tuxedomoon e os Penguin Cafe Orchestra.
O esquema inicial da sua prestação foi invariavelmente a alternância de temas rítmicos com outros em que o computador se calava, permitindo aos dois instrumentistas, sobretudo ao violinista, exibirem os seus talentos. E aqui o primeiro equívoco. O tipo de música que os Duplex se propõem fazer exige um virtuosismo que os seus membros estão longe de possuir. Não é que toquem mal, mas não possuem ainda a fluência instrumental, o à-vontade que lhes permita libertarem-se da rigidez que por ora ostentam. Era notório o esforço que por vezes faziam para conseguir acompanhar o ritmo computorizado, quando seria suposto tocarem com ou sobre os esquemas rítmicos de base. Por outro lado, os Duplex estão, por enquanto, longe de serem originais e sabe-se quanto a originalidade conta no campo musical que escolheram. Para já limitam-se a alinhavar influências de etnias várias, como a árabe ou eslava num contexto classizante, não indo muito além do percorrer de escalas resultando num som bonitinho e imediatamente reconhecível. Nenhum risco ou ponta de audácia nas soluções melódicas e harmónicas. Jogam para já num exotismo de pacotilha e no facto de se movimentarem num campo que, em termos nacionais, se apresenta praticamente virgem. Em terra de cegos…
Mas o pior de tudo foi o final, quando os Duplex se afundaram no seu próprio pretensiosismo. Subiram ao palco uns instrumentistas «da clássica», com instrumentos «a sério» como o violoncelo, a flauta e o trompete e, finalmente, um coro de senhoras, todos juntos para um final pretensamente grandioso. O resultado foi assistirmos a uma aula de alunos do Conservatório, com todos os participantes desunhando-se para não desafinarem ou saírem do compasso. Os Duplex Longa são, por enquanto, apenas uma boa ideia. Podem ir longe se souberem admitir e até mesmo tirar vantagem das suas próprias limitações e se se preocuparem menos em «mostrar que também sabem fazer» e mais com a criação de uma linguagem própria, sob risco de não passarem de um puro exercício de estilo. Ah, é verdade, na 1.ª parte tocaram os Criterium, variante nacional n.º 6348 dos Joy Division.
Aguardam-se futuras iniciativas, com propostas menos certinhas e mais desestabilizadoras.