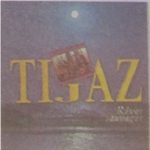Pop Rock
27 MAIO 1992
OS SAXOFONES DO APOCALIPSE
As Festas da Cidade começam ao ritmo do Fim, do Apocalipse. Com o espectáculo multimédia, no Rossio, dos Urban Sax, agrupamento de saxofones sinfónico-minimal que redimensiona o espaço (arquitectónico e mental) de actuação em teatro cosmológico das cidades em agonia.
1 de Junho / 22h00 / Rossio
Urban Sax é a projecção cénico-musical de um pesadelo. Em “technicolor”, uma superprodução nascida do cruzamento de Cecil B. de Mille com David Lynch. Os Urban Sax são cerca de meia centena de saxofonistas mascarados, umas vezes mais, outras menos, criadores da sinfonia de Babel. A cidade, com as suas paranóias, os seus gritos, os seus jogos de gente, mais do que palco, é elemento participativo da música e da encenação dos Urban Sax. Eles são a cidade. O maestro presidente da Câmara é Gilbert Artman. Os outros músicos podem ser quem imaginarmos. Figuras abstractas, monstros de forma humana, mutantes envergando escafandros pós-nucleares, ligados entre si por conexões electrónicas que permitem a sincronização e a disseminação dos seus estertores pelo espaço circundante.
No Rossio não se sabe bem como vai ser. Mas pode-se fazer conjecturas a partir da anterior e memorável actuação do grupo, na Central Tejo, em 1987. Haverá músicos espalhados pelos telhados da Praça. Outros surgirão do subsolo. Dois ou três poderão estar mesmo atrás das nossas costas e roçar o nosso medo sem pedir licença para o sobressalto. Fogo de artifício, bombas e sirenes contribuirão para fazer subir o nível de adrenalina e de excitação.
A música é mais previsível: um contínuo abrasivo de saxofones, ora próximo do trovão ora do sussurro de angústia. Um sopro único multiplicado e distribuído por dezenas de vias. Noção de continuidade, de obra intemporal, de uma matriz e de uma torrente sonora sem início nem fim, que a obra em disco testemunha. Uma só peça, obrigada a dividir-se – pela insuficiência temporal da “duração” – por quatro álbuns, qualquer deles imprescindível: “Urban Sax”, “Urban Sax 2”, “Fraction sur le temps” (título elucidativo do que atrás foi dito) e “Spiral”, este último distribuído em Portugal pela Dargil.
Decerto que a actuação dos Urban Sax no Rossio não será menos espectacular do que muitas outras realizadas noutros locais por esse mundo fora: Veneza, em gôndolas e suspensos sobre os canais. Na Expo 86, em Paris, na Bastilha, em Barcelona, em todo o lado, sempre com a força de um circo sobre-humano, sempre perante o espanto e o assombro de dezenas de milhares de pessoas, atraídas pelo insólito da apresentação, pela hipnose do som ou simplesmente pelo abismo.
Gilbert Artman, antigo membro da banda francesa de “free rock”, Lard Free, explica que a intenção e as motivações dos Urban Sax são “a criação de música mecânica, música do mundo moderno”. Saxofone Urbano? “O saxofone reflecte a vida urbana melhor do que qualquer outro instrumento, mas só a multiplicidade combinada com a mobilidade pode captar o quadro inteiro.” Planificação e estudo prévio dos locais onde actuam fazem parte da estratégia dos Urban Sax. Tudo assenta no espaço, num ambiente particular, em que a música se insere de forma harmoniosa, se o termo “harmonia” é lícito neste caso. Os Urban Sax são a voz desse espaço, a tradução amplificada dos resíduos sonoros acumulados pela História e pela poluição no cimento e no metal, parafraseando a ideia de um conto do escritor de ficção científica, J. G. Ballard. Artman organiza esse caos de som residual em sinfonia, ordena mil pequenas ansiedades num grito imenso e maior, potencia o medo em pânico, a fogueira em holocausto, o espectáculo projecta-se, planetário, por dentro do cosmo do inconsciente. Comparados com a orquestração totalitária a quatro dimensões dos Urban Sax, o assalto aos sentidos dos La Fura dels Baus reduz-se ao espalhafato de saltimbancos. Os saxofones e as máscaras dos franceses (devem ser franceses…) atingem-nos mais fundo e de forma mais subtil, subliminar. Nietzsche seria sensível a esta forma de poder.