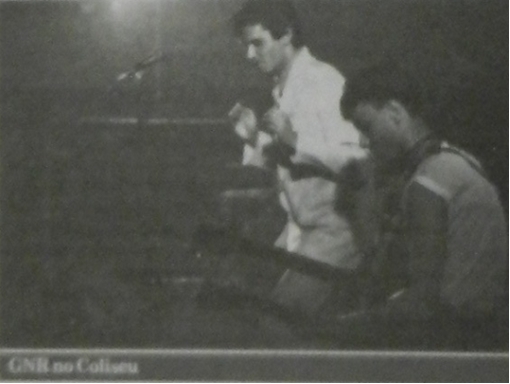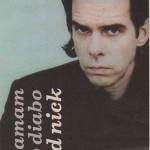pop rock >> quarta-feira >> 15.06.1994
EM PÚBLICO
MIGUEL TEIXEIRA *
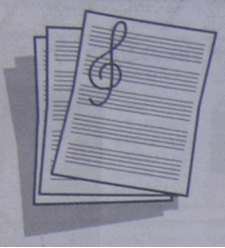

Qual é o seu percurso anterior aos Toque de Caixa?
Comecei a tocar com 14, 15 anos, e a ouvir muita música sul-americana, toquei nalguns grupos que praticavam este tipo de música. Entretanto, comecei a interessar-me pela música tradicional portuguesa, com o Zeca Afonso e o Adriano – convém dizer que tenho 36 anos… Toquei também num grupo chamado Siga a Rusga, que durou dez anos e lançou dois discos. O Siga a Rusga acabou e fui convidado pelo Tentúgal para fazer parte da segunda formação dos Vai de Rodam e, quase ao mesmo tempo, para integrar a formação do actual Toque de Caixa.
De uma vez por todas, aceita a comparação que muita gente faz dos Toque de Caixa com os Vai de Roda?
Há uma confusão. O estigma de dois grupos serem idênticos em termos de arranjos. Mas as pessoas não se podem esquecer de que os Vai de Roda, para além do director musical comum com o Toque de Caixa que era o Tentúgal, tinha três músicos que agora estão no Toque de Caixa. Pessoas com formação musical e a tendência para pôr a sua maneira de tocar no grupo. No meu caso, a minha forma de tocar esteve presente no Vai de Roda e em particular no álbum “Terreiro das Bruxas” quando se começou a fazer arranjos baseados na música sul-americana.
Tanto quanto se sabe as relações actuais entre os dois grupos não são as melhores. Quer explicar as razões por que isso acontece?
A minha relação pessoal com o Tentúgal não é boa nem má, é de “bom dia, boa tarde, estás bom, pouco gosto em ver-te e poucas vezes”… Houve coisas que se passaram em relação ao Manuel Tentúgal e ao Vai de Roda, nomeadamente com alguns elementos do grupo que não foram muito correctos para com o actual Toque de Caixa. Por uma razão ou por outra, eles não tiveram um comportamento à altura, nem de músicos, nem de amigos que éramos.
O problema concreto surgiu porque ensaiávamos todos no mesmo sítio e, a determinada altura, começaram a surgir problemas de dinheiro, enfim, um problema de afirmação de um grupo perante o outro. O Manuel Tentúgal achou que os músicos deviam tocar ou num grupo ou noutro e que o local de ensaio deveria ser apenas de um deles. Houve uma opção do Bilão, que na altura era o dono do espaço onde ensaiávamos e puseram o Toque de Caixa lá para fora. Não aceitámos isso com muito bons olhos e daí as relações terem esfriado.
O vosso primeiro álbum, “Histórias do Som”, pode considerar-se bastante experimental, dentro do campo da chamada música de raiz tradicional. Como se processa a relação do grupo com a tradição?
Não é nada complicada. Como já disse, o meu percurso tem a ver com a música tradicional portuguesa e da América latina. No grupo, procuramos dar um determinado cariz à música tradicional, com um tipo de arranjos que estejam de acordo com a nossa forma de sentir actual. Não estamos muito preocupados em pegar em temas tradicionais e em trata-los de forma a que as pessoas achem ou não fiel. Embora neste campo tenhamos muita coisa recolhida, desde material escrito em pauta, recolhido de livros, coisas que vamos buscar aos alfarrabistas, muito antigas e que pouca gente conhece, até gravações que tanto podem ser feitas por nós em locais que visitamos como de gravações pré-existentes, caso dos discos do Giacometti.
No seu caso e na qualidade de principal compositor do grupo, como articula a sua escrita com o material tradicional?
Há sempre qualquer coisa naquilo que componho que é “tradicional”, na forma que tenho de ver a música. É uma coisa que está dentro do corpo. Para além disso, há outro tipo de músicas que vão entrando…
Como a dos Penguin Café Orchestra, por exemplo, uma das influências óbvias do Toque de Caixa?
É capaz de ser normal porque é um grupo que, se repararmos bem, tem também uma influência – nomeadamente com a introdução do “Cuatro” – dos ritmos e baixos sul-americanos. É um tipo de música onde eu pessoalmente me sinto à vontade, porque o facto de ter tocado e ouvido durante tantos anos música sul-americana me dá um grande à-vontade em termos de tempos e contratempos – esse tipo de coisas. Ainda agora acabei de oferecer, como presente de aniversário a um dos membros do grupo – o Horácio -, um disco da Linda Ronstadt, da fase em que ela cantava música sul-americana. Sempre que posso, aprendo com os sul-americanos, nomeadamente em termos de ritmo instrumental.
Concorda que a música dos Toque de Caixa privilegia um certo classicismo formal, em detrimento da espontaneidade que, por regra, se associa aos grupos ligados À música tradicional?
Penso que ainda há muito pouco à-vontade… este é o primeiro disco gravado pelo Toque de Caixa. Além disso, o conceito de estúdio põe às pessoas um problema que é o de ter de trabalhar o mais depressa possível, porque o estúdio é caro. Nos grupos de música tradicional, isto torna-se ainda mais evidente. Sentimos que em estúdio somos mais pressionados. Fora isso, os arranjos que fazemos são igualmente para serem tocados em estúdio e ao vivo. É evidente que ao vivo as coisas resultam de outra forma. Por exemplo, no disco, o tema “Aula de Música”, com a miúda a cantar. Experimentámos duas vezes ao vivo e não resultou, porque a miúda não estava à vontade. Então passámos a ser nós a fazer essa parte, com um grande berreiro. O que, em estúdio, não resultou, porque ninguém conseguiu reproduzir esse ambiente de festa. Pelo contrário, em estúdio, a voz da miúda resultou perfeitamente.
Uma das características comuns a muitos grupos portugueses da vossa área é o número elevado de elementos dos grupos, como é o vosso caso. Na Irlanda, por exemplo, dois ou três chegam para fazer muito boa música. A que se deve tal facto? Não será uma dificuldade adicional? Ou, pelo contrário, serve para disfarçar insuficiências técnicas?
Sim, provoca algumas dificuldades, nomeadamente logísticas. Temos sempre o problema de sermos nove elementos, para ir a qualquer sítio. Mas é de facto um apanágio dos grupos portugueses, terem sete, oito músicos. Quanto ao aspecto de execução técnica, como sabe, nem o Toque de Caixa, nem a maioria dos grupos portugueses são formados por músicos profissionais. Daí não podermos ensaiar todos os dias, nem sequer dia sim dia não.
A esse nível, há de facto falta de ensaios, se levarmos em conta que um grupo profissional tem pelo menos que ensaiar todos os dias, estar agarrado ao instrumento umas horas por dia. Talvez seja essa uma das razões e nós tenhamos que nos apoiar, podendo haver um músico que colmata as dificuldades do outro. Mas não sei até que ponto isso não será um falso problema, porque dentro deste género de grupos existem muito bons instrumentistas. Mas ao vivo há de facto que ter mais cuidado, são muitas pessoas, com cabos, problemas de equilíbrio de som. Aí sim, é pior.
Como se explica que o Toque de Caixa seja um dos grupos portugueses ligados à música tradicional que mais actua nos estrangeiro?
A Etnia tem sido até agora uma das vias que nos tem permitido chegar mais facilmente ao estrangeiro. Mas temos tocado bastante em Espanha, ou em França, sem termos nada que ver com a Etnia. Temos os nossos canais privados e enviamos discos a pessoas que conhecemos e estão bem colocadas ao nível da organização de concertos e festivais. O facto de o Toque de Caixa ter uma postura agradável em palco talvez também ajude.
Depois de “Histórias de Som” têm já algum novo projecto em perspectiva?
Estamos a pensar muito seriamente em começar a gravar o segundo disco no início do ano que vem. Já estamos a fazer ensaios, a trabalhar nos arranjos. Só estamos à espera que a editora [Numérica, do Porto] em Janeiro dê o sim ou não.
* Director musical e multi-instrumentista dos Toque de Caixa que recentemente editaram o álbum “Histórias do Som” e actuaram com sucesso no Festival Intercéltico do Porto.