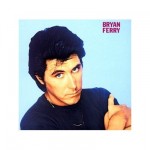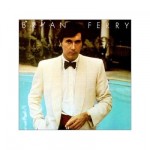22.09.2000
Coldfinger Acenam com “Lefthand”
Quem é a Favor, Levante a Mão Esquerda


LINK
Mãos ao ar! A esquerda! “Lefthand”. O álbum de estreia dos Coldfinger electrifica filmes negros, comete crimes na noite, faz scratch de sentimentos obscuros e corta à faca versos de Álvaro de Campos. E se entrar para um autocarro a uma hora de ponta e olhar para dentro da cabeça de uma pessoa – isso é drum ‘n’ bass. O PÚBLICO armou-se em detective e foi investigar.
Ele, Miguel Cardona, faz filmes sonoros, sente o poder de tocar na teclas de um piano Fender Rhodes ou de um Mini-Moog, arreganha os dentes a quem ousa proclamar a morte do drum ‘n’ bass e não consegue aguentar até ao fim a beleza excessiva de um filme como “Magnolia”. Ela, Margarida Pinto, veste-se das grandes cantoras clássicas e assume-se como a “face escura” da banda. Em “Lefthand” cada um é o braço do outro.
FM – Como é que Álvaro de Campos aparece metido nesta história, no tema de abertura, “Para um poema”?
Margarida Pinto – Foi um poema que me veio parar Às mãos. Normalmente trago sempre comigo a “Tabacaria” mas neste caso li os versos na casa de um amigo meu e achei-os extremamente musicais. Fiquei com o poema na cabeça. Acabámos por utilizá-lo com uma base musical que também não é nossa, mas do Arkham Hi*Fi.
FM – “Lefthand” junta electrónica, lounge, jazz, bossa-nova… Não se pode dizer que não estejam na crista da onda.
Miguel Cardona – No meu caso, que estou mais ligado à produção, se não estiver a fzer música estou a ouvir. Em minha casa ou na de coleccionadores de discos. Ainda na semana passada comprei o “Room With a View”, que é uma compilação dos Amalgamation of Soundz, que são eles próprios coleccionadores, a colectânea “Jazz in the House 8” do Phil Asher, alguém que passa este tipo de som que agora está na moda, um álbum já antigo de Q-Tip. A verdade é que todas estas modas, como o fat garage, ou o Larry Levan, já me andam a chatear. São cada vez mais rápidas, as pessoas não têm tempo para absorver o que é importante.
Margarida Pinto – Eu ouço Billie Holiday, Nina Simone, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan…
FM – Dizia o Miguel que as pessoas já não absorvem o que é importante?
Miguel Cardona – Às tantas forma-se um bloqueio. De repente gosta-se de bossa e já não se gosta de drum ‘n’ bass, de que se gostava há três meses. Ouvir música torna-se um fenómeno consumista e “racista”. A moda leva as pessoas a terem sensações apenas pelo facto de ser algo que está na moda e não simplesmente pela música em si. Diz-se: “Sinto-me bem porque estou num ambiente lounge a ouvir Masters at Work na versão “Bossa Très Jazz” e pronto, estou bem porque estou com o pessoal, sei que o que está a tocar é a faixa três, sei que isto foi roubado pelos Moloko e que deu milhões de contos em “Sing it Back”, portanto sou uma pessoa especial porque sei isto, porque li numa revista ou um amigo meu ou um jornalista informadíssimo me disse!”…
FM – Mas isso não faz parte da própria natureza do circuito da música de dança, essa socialização? Mesmo a música de “Lefthand” está mais próxima do que nos primórdios da banda, dessa vertente, digamos, mais mundana…
Miguel Cardona – Isso é porque ficámos mais sozinhos a produzir o disco, apenas nós os dois e o Joe Fossard. É um disco mais vasto onde se torna mais fácil darmos largas a todas as nossas ambições musicais e se calhar porque estamos mais perto dessa ideia de contemporaneidade social do que de uma ideia de contemporaneidade intelectual.
FM – E a Margarida, sente o mesmo apelo do gozo directo, de uma música mais conotada com o conceito de diversão?
Margarida Pinto – Não, normalmente sou eu a “face escura”. O Miguel é uma pessoa com mais energia que assume esse lado de provocar uma experiência sensitiva, de provocar nas pessoas uma vontade de dançar. Eu vou menos por aí…
Duke Já Havia
FM – “Duke Interlude” é obviamente uma dedicatória a Duke Ellington, embora pela música ninguém adivinhasse…
Miguel Cardona – Esse tema tem uma história. Ao registar as faixas na SPA, o tema chamava-se “Rude Interlude”. A senhora que lá estava, muito simpática, disse logo “não, não! Esse tema não pode registar com esse nome porque há aqui um senhor que é o (soletra) D-u-k-e E-ll-in-g-ton…”. Já eu me estava a partir a rir. Exactamente, é mesmo o senhor Duke Ellington. Entre gargalhadas acabei por “agradecer” à senhora ter ficado a conhecer um grande vulto da orquestração jazz e um dos músicos do séc. XX. Ficou “Duke Interlude”.
FM – Pelos títulos, percebe-se que gostam de brincar com as palavras…
Miguel Cardona – É uma necessidade. Por exemplo, “B com 1”, que no poema original da Margarida se chama “One Alone”. Mas também tivemos dificuldade com o registo dessa faixa… “Mondo” faz-me lembrar o nome de uma bebida, ou uma paisagem…
FM – Quem são os Lisbon City Rockers que produzem os temas “Criminal Behaviour” e “Trans Interlude”?
Miguel Cardona – É segredo. Também foram eles que produziram o nosso single, “Single plus”. Digamos que são um colectivo cujo anonimato tem a ver com a ideia de criar uma imagem, um espaço lúdico, uma etiqueta que possa incluir Os Faíscas, António Variações ou os Mler Ife Dada, passando pelo Rock Rendez-Vous. Uma ideia de unidade, de movimento e que também tem a ver com o rock fora da sua conotação anglo-saxónica, um “Lisbon rock!”. Mas fazem essencialmente música de dança ligada ao “house” ou um “electro” mais pop, da velha escola. São uma espécie de testemunhas silenciosas.
Condução de Pesados
FM – Foram buscar para a gravação os velhos sintetizador Moog, o órgão Hammond e o piano eléctrico Fender Rhodes.
Miguel Cardona – O que o Fender Rhodes tem de melhor é o peso das teclas. Podes ter um bom som de Fender samplado mas depois não tens a relação com o instrumento, que vibra e é bonito, e em que a sua própria imagem inspira o músico. Quanto ao Moog, assiste-se a um regresso brutal. No analógico, a parte eléctrica é muito mais rica, os componentes, os próprios materiais, permitem ao instrumento ter um som muito mais poderoso. Sente-se que está ali qualquer coisa. É como conduzir um veículo pesado. É diferente teres um tecladozinho Midi onde podes chamar um “som Rhodes” ou um “som Moog”. Perde-se essa relação.
FM – Cada um dos temas de “Lefthand” podia passar por um pequeno filme. Há uma relação directa da música dos Coldfinger com o cinema?
Miguel Cardona – O cinema é algo que transporto comigo. O último filme que vi foi “Magnolia”. Achei-o tão bom, de tal forma intenso, que me levantei e fui-me embora, já não aguentava mais, comecei a ficar transtornado. Deviam parar a meio para as pessoas descansarem. As imagens cinematográficas determinam por um lado o facto de nos expressarmos em inglês e, por outro, a relação com personagens, com heróis, que acabam por influenciar a minha escrita musical. O último tema, por exemplo, “The tree and the bird”, é uma fábula que vejo na minha cabeça como um filme de animação. Sobre um fundo branco, há uma arvora a falar a um pássaro dizendo-lhe “Tu também fazes parte de mim, não vou poder ir contigo, mas se puderes levar um pouco de mim dentro de ti quando te fores embora…”. Claro que há outras imagens bastante mais pesadas…
FM – “Lucky Star” é um dos temas de “Lefthand” mais declaradamente inserido no drum ‘n’ bass. Afinal em que ficamos, o d ‘n’ b morreu ou veio para ficar? Um músico como Amon Tobin enterrou ou salvou o d ‘n’ b?
Miguel Cardona – Não acredito nessas mortes anunciadas. Já quando era miúdo tentaram matar o punk, depois tentaram matar o rock… O Amon Tobin trabalha com o som de uma forma quase dada, cola os elementos, muito na escola dos Coldcut e da Ninja Tune, apesar de ser diferente. Não acho que ele seja um típico autor de drum ‘n’ bass. O James Hardway também fez agora um disco um bocado diferente, mas faltam os gurus… O LTJ Bukem, que seria um dj de d ‘n b, fez um disco que não é de d ‘n’ b. Mas o d ‘n’ b não morreu. É uma ideia que existia já no jazz be-bop, com uma atitude tipicamente humana. Se um gajo apanhar um autocarro numa hora de ponta, lá dentro é um concreto de d ‘n’ b na cabeça das pessoas…