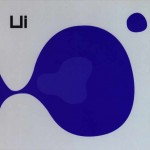27.03.1998
Pop Rock
Big Brother Is Watching You
Trans AM
The Surveillance (8)
City Slang, distri. Música Alternativa
Stars Of The Lid
Gravitional Pull vs. The Desire Of An Aquatic Life (7)
Kranky, distri. MVM
Ui
The 2-sided EP/The Sharpie (7)
Soul Static, distri. MVM
Uilab
Fires (8)
Duophonic, distri. MVM
De Chicago chega-nos mais um pacote de pós-rock ou “música intuitiva” ou seja lá qual for o rótulo que se lhe queira colar. Aos Trans AM deparava-se a árdua tarefa de ultrapassar o álbum do ano passado, “Surrender To The Night”, considerado quase unanimemente um marco do pós-rock e uma espécie de complemento de “Millions now living will never Die”, dos Tortoise, com quem os Trans AM têm mantido um paralelo curioso, mais que não seja pela quase coincidência dos “timings” editoriais. “Tortoise” e “Trans AM”, os respectivos álbuns de estreia, estavam bastante próximos entre si.
Eram monstros de metal estruturados segundo fórmulas rítmicas minimalistas em que o uso da electrónica dava ainda os primeiros passos. Com “Surrender to the Night” e “Millions now Living…”, as duas bandas disparavam para os territórios do puro experimentalismo, na altura em que atingia o auge o referencial germânico do “Krautrock”. Chegados, de novo quase em simultâneo, ao terceiro capítulo, os Tortoise e os Trans AM desencontraram-se em definitivo. Consumada a entrada dos primeiros na enfermaria ambiental. a par da recuperação do “easy listening” e do ensaio no jazz-rock lectrónico, verifica-se que os Trans AM caminharam no sentido inverso. “The Surveillance” é um álbum violento sobre o tema do controlo, da vigilância e da manipulação dos indivíduos pela tecnologia. Oito meses, num estúdio construído especialmente para o efeito, foi quanto demorou a fazer um disco que, ao contrário de “TNT”, dos Tortoise, apresenta sintomas de claustrofobia e destila suor por todos os poros. Sinónimo de esquizofrenia, “The Surveillance” alterna duas vertentes distintas, uma mais dura, marcada pelas guitarras e pela saturação tímbrica do primeiro álbum (com vénia aos This Heat, em “Extreme measures”), e outra totalmente electrónica, segundo a linha de montagem automatizada inaugurada pelos Kraftwerk, em faixas como “Access control” (uma variante rítmica de “The man machine”), “Prowler 97” e “Home Security” (com alguns dos timbres de cristal de “Computer World”). É um jogo de consola de “música perigosa”, como os próprios músicos a definem mas onde o extremo rigor da escrita acaba por minimizar os eventuais efeitos de risco.
Mantendo-se em flutuação numa “drone” sem fim pelo interior de um buraco negro, os Stars Of The Lid penetraram, contudo, numa zona mais povoada de microacontecimentos do que a aridez absoluta do anterior “The Ballasted Orchestra”. Com a diferença de que, ao contrário de “Ballasted”, em que a banda de Chicago levava ao extremo o prazer da monotonia, “Gravital Pull” deixa entrar alguma, pouca, claridade, em oscilações tímbricas que tornam a música mais ondulatória. Klaus Schulze, de “Mirage”, surge como referência num tema como “The better angels of our nation”. Um Jeff Greinke congelado na eternidade assombra “Cantus II; in memory of Warren Wiltzie, Jan69”, que parece sair directamente das entranhas de um cemitério. “Lactate’s moment” e “Be little with me” recordam, respectivamente, as ondas cirúrgicas de “Evening Star” e “No Pussyfooting”, de Fripp e Eno.
Os Stars Of The Lid são uma das bandas pós-rock mais bizarras, não só pela recusa obstinada em utilizarem o ritmo como pelo hermetismo dos seus conceitos. Mas já não estão sós na sua solidão obscura. Os Windy & Carl, com “Depths” e os Frontier aí estarão em breve com as suas propostas pessoais de “pós-ambient”.
Dos mais antigos representantes do movimento pós-rock com origem em Chicago, os Ui lançam em simultâneo dosi discos com características específicas, antes da ediçã próxima do novo de originais, intiutlado “Lifelike”: “The 2-Sided EP”, de 993, e “The Sharpie”, de 1996, agora reunidos num “digipak” de apresentação atraente que testemunha a pasagem do rock matemático e muito “RIO” (“Rock In Opposition”) do primeiro para a experimentação com os sintetizadores analógicos do segundo. Bastante mais interesante é a junção dos Ui com os Stereolab, denominada Uilab, que em “Fires” apresentam um núcleo central formado por quatro versões de “St. Elmo’s Fire”, uma composição de Brian Eno incluída no seu álbum de 1975, “Another Green World”, às quais se juntam um arranjo colectivo de “Impulse Rah”, de Sun Ra, e “Less Time”, da autoria dos Ui.
Cada uma das sucessivas versões de “St. Elmo’s Fire”, “Radio”, “Red corona”, “Spatio-Dynamic” e “Snow”, afasta-se progressivamente do original, com a voz de Laetitian Saedier a evoluir de um clone feminino de Eno, em “Radio”, para uma mutação electronicamente transformada em “Red Corona”. “Spatio-Dynamic” é “funky” à maneira dos Talking Heads, com o órgão torturado e o vibrafone dos Stereolab. Na última das versões, “Snow”, o tema torna-se irreconhecível numa mescla de sonoridades retorcidas ainda aqui mais próximas das contas feitas pelos Stereolab em “Emperor Tomato Ketchup” do que d amúsica descarnada dos Ui, antes de a voz de Laetitia repor os pontos nos is, ao decalcar as medidas exactas do original de Brian Eno, fechando-se o ciclo no mais puro “krautrock” dos Kraftwerk, de “Ralf and Florian”. Em “Impulse Rah!”, de Sun Ra, o macrocosmo “free” deste compositor é condensado num microcosmo de sintetizadores de borracha, rituais percussivos e um órgão em marcha hipnótica que abre caminho através das improvisações minimalistas dos sintetizadores. Os anos 70 (aos quais a edição de Abril da “Q” dedica um extenso “dossier”) cada vez mais a tocarem o final do século.