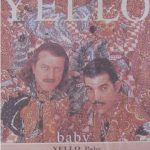Sons
29 Agosto 1997
A mais bela colheita

Para Kathryn Tickell, o borracho da gaita-de-foles de Northumbria, são importantes o “feeling”, o respeito e o diálogo com os tocadores mais velhos, mas também que aos mais jovens sejam dados a oportunidade e os meios para poderem singrar como músicos. O seu novo álbum, “The Gathering”, é um dos estoiros do ano. Mesmo “sem um acordeão à vista”, numa alusão à saída do grupo de Karen Tweed.
Kathryn Tickell, que já actuou, há uns anos, em Portugal, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, junta a fotogenia e o talento, como tocadora de gaita-de-foles e violino, com uma genuína preocupação com o que se passa, a nível do ensino de música, em Inglaterra. Falou ao PÚBLICO dessas preocupações e do seu álbum mais recente. “The Gathering”, que considera ser o seu melhor de sempre. Em matéria do gostos pessoais, as suas preferências vão para a música da Escandinávia.
PÚBLICO – Quais são as diferenças entre as “uillean pipes” e as “Northumbrian small pipes”?
KATHRYN TICKELL – Ambas usam o mesmo tipo de fole, em volta da cintura e pressionado com o cotovelo para empurrar o ar em vez de se soprar com a boca. Mas as ponteiras são bastante diferentes, por isso o som também é diferente. As “Northumbrian pipes” soam muito puras e precisas. As “uillean pipes” têm um som mais selvagem.
P. – Não é muito vulgar encontrar executantes que juntem a gaita-de-foles e violino, como é o seu caso…
R. – Na região de onde venho, a Northumbria, era comum entre os executantes mais velhos esta combinação. Suponho que o violino era usado mais para as danças e as “pipes” para os solos. Aprendi a tocar estes dois instrumentos aos 9 anos, em parte porque era normal na minha família, mas também porque era essa a minha vontade.
P. – Há quem diga que a música que faz actualmente perdeu uma parte de energia, com a saída de Karen Tweed, a acordeonista. Ela era assim tão importante no grupo?
R. – Antes de Karen Tweed, havia outro tocador de acordeão na banda que também era muito bom. O acordeão é um instrumento dominante e, obviamente, quando se tem um grupo de quatro elementos e esse instrumento desaparece, sente-se a sua falta. A nossa música tinha mesmo que mudar depois da saída de Karen. Agora é mais subtil, tem mais espaço. Mantivemos apenas um par de temas do reportório do acordeão e, mesmo estes, foram completamente rearranjados para se adaptarem ao trio. Nos festivais ou n os concertos maiores gostaria de aumentar o trio com mais um instrumento, talvez o acordeão, outra vez, ou outro qualquer, para trazer de volta o som da “big band”. Mas Ian e Neil gostam mais do novo formato, sentem-se mais livres. Devo dizer que me sinto bastante feliz com “The Gathering”, que considero ser, de longe, o meu melhor álbum. E sem nenhum acordeão à vista! Karen era de tal forma boa que seria difícil encontrar outro acordeonista para a substituir. Por isso decidimos que esta seria a melhor estratégia, evoluirmos para um “feeling” diferente.
P. – Num instrumental como “Real blues reel”, faz um dueto de extrema complexidade com a harmónica de Brendan Power. O que é mais importante para si, a velocidade, a capacidade de introspecção, a força, a emoção?…
R. – O “feeling”. É claro que a técnica também me impressiona, mas os meus músicos preferidos, os que mais me inspiraram, são aqueles que tocam as minhas emoções.
P. – Numa entrevista publicada na edição de Junho da “Folkroots” demonstra um grande interesse pelos músicos mais novos, referindo-se ao seu envolvimento no “show” da BBC Bright Young Things e a uma tal Tyne & Wear Foundation.
R. – No ano passado fiz, de facto, uma série de programas de rádio para a BBC onde apresentei alguns jovens músicos. A resposta do público foi boa, por isso deram-me mais uma série, à qual mudei, entretanto, o título. Há músicos tradicionais de excelente qualidade em Inglaterra que não estão a ter o reconhecimento que merecem. Sempre que tenho oportunidade, dou-lhes um empurrão. Em relação à Tyne & Wear Foundation, é uma organização de caridade, com a qual montei, em Março passado, um “fundo para os jovens músicos”, cujo objectivo é ajudar esses mesmos músicos no Nordeste de Inglaterra, região onde as taxas de desemprego são muito elevadas. Aprendi a tocar violino na escola, como parte da minha educação. Presentemente, devido aos enormes cortes governamentais nesta área, chegou-se a uma situação em que as crianças só podem aprender a tocar um instrumento se os pais tiverem posses para pagar. E muitos não têm. O fundo tenta arranjar dinheiro para pagar lições, coisas deste tipo, às crianças.
P. – Tem alguns planos para editar o material que gravou com dois músicos lendários de Northumbria, Will Atkinson e Willie Taylor?
R. – Will Atkinson, um tocador de harmónica, foi dos tais músicos que mais me influenciaram, assim como o violinista Willie Taylor. Willie não é brilhante, em termos técnicos, mas adoro o seu “drive” e o seu ritmo. Dá-nos uma vontade irresistível de dançar. Além de que tem um “feeling” fantástico nos “slow airs”. Infelizmente não temos muita música gravada, os três. Eu e Willie tocámos algumas coisas, no ano passado, que gravei. Ele tem 81 anos e o seu som está a tornar-se um bocado arranhado e a sua memória já não é o que era, mas quando consegue “arrancar” ainda é fabuloso! Adoraria editar este material num álbum. Sei que não venderia milhões, mas isso não é importante. No que diz respeito a Will, está com 89 anos, e forte como nunca!…
P. – Vai tocar com o saxofonista de jazz John Surman no Stockton Riverside Festival, já no próximo mês. Como se está a sentir?
R. – Excitada. Apavorada, mas excitada!…
P. – E em que ponto se encontra outro projecto seu, com Sting e Jimmy Nail, a favor da Rainforest Foundation?
R. – Esse é mesmo um estranho trio! Gravámos um tema tradicional de Northumbria, “The waters of Tyne”, para um álbum. Também o tocámos ao vivo num concerto de caridade no Carnegie Hall, em Nova Iorque. Sting e Jimmy Nail são de Newcastle, onde eu vivo, e interessam-se ambos pela música tradicional.
P. – Qual é o seu “top” de preferências discográficas actual?
R. – “Song for Everyone”, de Jan Garbarek, Shankar e Zakir Hussain, tem sido um dos meus discos favoritos nos últimos anos. Os restantes variam de dia para dia. De momento escolho: 2) “Frifot”, de Mӧller, Willemark e Gudmunsson [N. R. – Fica a dúvida se Kathryn se estaria a referir-se ao novo “Järven”, dos Frifot]. Adoro música de violino sueca. 3) Martin Hayes, com “Under the Moon”. 4) Tenores de Bitti, “Intonos”. 5) Em princípio, escolheria o álbum de Ola Bäckstrӧm, “Ola Backstrom”, mas Ian acabou de me oferecer uma cópia do novo dos Swap, “Swap”, com ele na guitarra, Karen Tweed no acordeão e Ola Bäckstrӧm e Carina Normansson nos violinos. É uma maravilha.