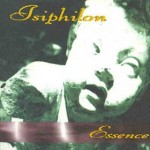PÚBLICO QUARTA-FEIRA, 3 OUTUBRO 1990 >> Pop Rock
O MUNDO IMPONDERÁVEL
COCTEAU TWINS
Heaven or Las Vegas
LP e CD, 4AD, distri. Anónima

Título enigmático como sempre acontece quando a dupla Elizabeth Fraser/Robin Guthrie se decide a passar para o vinil, encantamentos e fantasmas. Ao lado dos seus principais rivais, Dead Can Dance, os Cocteau Twins integram a elite mais atmosférica da editora de Ivo Russell. Voando através de diferentes estratos da atmosfera, os dois grupos perseguem o sétimo céu. Se em “Aion” os Dead Can Dance recuaram decididamente em direção às brumas e invocações do passado, folgando e fulgindo em épocas medievais e renascentistas, os Twins flutuam ainda e sempre num território indefinido, limbo inebriante, a que se acede por áleas difusas, estados de alma particulares, propícios ao fruir das fragrâncias vocais de Elizabeth Fraser. Em relação a álbuns anteriores os céus possuem agora fundações mais sólidas. A voz ancora-se em estruturas rítmicas definidas, na forma de canções, em vez dos habituais esboços de contornos mutáveis. Na aparência, pode parecer não ser o método ideal para o espraiar de todas as potencialidades do canto. A audição de “Heaven or Las Vegas” prova o contrário: num contexto formal declaradamente pop (em que quase se adivinham refrões e o dialeto secreto da cantora se abre, por vezes, a termos linguisticamente perceptíveis…), os arabescos vocais de Liz Fraser ganham uma maior concentração, como se, ao invés de longas e abstratas divagações, se procurasse agora, em cada tema, canalizar um ambiente preciso, evocar um espectro particular, sugerir um determinado perfume. Como as imagens de um quadro ao qual se acrescentou uma moldura. Temas como “Iceblink Luck” (editado em single) ou “Heaven or Las Vegas” (com a voz de Fraser quase agressiva, lembrando Chryssie Hynde nas entoações), são dos poucos imediatamente identificáveis com esquemas musicais de anteriores trabalhos. Nos restantes assiste-se ao germinar de novas estratégias, com Robin Guthrie e Simon Raymonde, concedendo papel determinante ao baixo e aos sintetizadores na criação dos ambientes sobre os quais sonha e bruxuleia a voz da fada. “Pitch the Baby” e “I hear you Ring” são intrincados labirintos vocais, diálogos a duas e três vozes, (no segundo Liz veste a pele de Kate Bush e entretém-se a brincar na casa dos espelhos), teias onde as emoções se enredam, estradas que vão dar a lado nenhum, paisagens, miragens percorridas em estado de encantamento – como num sonho. Diáfana e poderosa, a música dos Cocteau Twins gira eternamente, renovando a cada rotação, o colorido, o ritmo e a velocidade. O essencial permanece imutável: um universo à parte na atual música popular, de fronteiras bem delimitadas e paradoxalmente difíceis de localizar – “esfera cujo centro está em toda a parte e a calote em lado nenhum” – segundo a asserção alquimista. ***