Pop Rock
16 de Novembro de 1994
EM PÚBLICO
FREDO MERGNER *
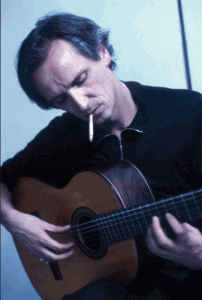
O seu primeiro disco a solo, “À Sombra da Figueira”, soa por vezes bastante nostálgico. É uma pessoa triste?
A tristeza é sem dúvida um elemento presente. Não sou propriamente uma pessoa triste mas sim sentimental. Mas essa tristeza, ou essa nostalgia, que diz sentir ao ouvir o disco, isso para mim já significa que consegui transmitir esses sentimentos.
Essa nostalgia tem a ver com o facto de ter nascido na Hungria, ou seja, de viver numa pátria que não é a sua?
Vim para Portugal em 1977, tinha 24 anos. Fiz a minha evolução em Portugal. As minhas influências, recebi-as de Portugal. Considero-me um cidadão português. Falo português… Mas é difícil ser-se português em Portugal… Se estivesse na América, passados dois anos, podia logo dizer “I’m american” e toda a gente acharia isso normal. Em Portugal é diferente, é um país antigo, cheio de tradições, com raízes culturais fortes. A adaptação é muito mais difícil do que num país muito novo como os Estados Unidos.
Que razões o levaram a deixar a Hungria?
Deixei primeiro a Hungria para ir viver para a Alemanha, só depois é que vim para cá. Tinha acabado o curso de Antropologia e não tinha nada planeado. Cheguei a Portugal e fui ficando por cá. Tive uns amigos portugueses que me perguntaram se não queria ficar a viver em Lisboa. Fiquei.
É verdade que antes da guitarra estudou harpa?
Sim. Aliás nasci numa família que tem raízes musicais fortes. Todas as pessoas que fazem parte dela têm jeito para a música. O meu primeiro instrumento, aos cinco anos, foi o acordeão de botões. Aos de comecei a tocar trompete numa banda filarmónica e aos dezasseis comecei a estudar harpa, que foi aliás o único instrumento em que tive aulas a sério. Claro que toquei sempre um bocado de guitarra, uns acordes. Fazia parte de uma banda de liceu, no fim dos anos 60. Mas só passei a dedicar-me á guitarra a partir dos 18 anos. Mas como já tinha um “background” musical foi fácil, ao fim de seis meses já tocava peças difíceis.
São perceptíveis neste disco certos fraseados na guitarra que lembram a harpa, Andreas Vollenweider por exemplo…
Certamente estão lá coisas da harpa, sobretudo nos harpejos e em certos acentos musicais.
“À Sombra da Figueira” pretende ser um disco de música portuguesa? É que por vezes é notória a distância, um certo desfasamento de sensibilidades…
É uma fusão. As influências vêm da música portuguesa e da música sul-americana, brasileira por exemplo, e da música espanhola. “Almas perfumadas”, por exemplo, é uma fusão entre um fadinho e o chorinho. Tive uma fase em que estudei mesmo o chorinho. Tenho uma grande colecção de partituras de chorinho. Por outro lado, a utilização da guitarra portuguesa é diferente. Uso a guitarra portuguesa de uma maneira diferente do fado, onde a viola é quase um escravo. De certo modo inverto os respectivos papéis. A música espanhola vem também daqui, do ambiente que se vive em Portugal.
Como definiria esse ambiente?
Um pergunta um bocado difícil. Como já disse, fiz a minha evolução aqui, como autodidacta. Nunca ninguém me mostrou nada. Nu fundo, tudo o que sei e faço em música foi conseguido por mim sozinho, sem auxílio, deixando actuar sobre mim os ambientes. Ambientes que os próprios portugueses, por dificuldades várias, económicas e outras, não sabem aproveitar.
Concorda que o disco se pode inscrever na categoria do “muzak”, música de fundo sem grandes pretensões?
Não é um disco de música instrumental vulgar. Normalmente, a função da música instrumental é servir de música de fundo. Penso que o meu álbum exige uma audição um bocado mais atenta. As pessoas costumam comentar e pôr algumas reticências por ser um disco sem voz. Costumo dizer que é a guitarra que canta. É um instrumento que, bem tocado, tem as possibilidades expressivas de uma voz. Pode-se bater nela ou ser suave e fazer-lhe festinhas. Consoante o caso, assim sai o som.
E uma forma de resistência aos Resistência?
É importante dizer que sou compositor, além de executante. Nos Resistência, o meu trabalho a minha contribuição é importante para o som do grupo. Mas isso não impede que, enquanto compositor, não sinta necessidade de pôr as minhas composições cá fora. Já tenho uma obra escrita bastante volumosa, os nove temas do disco foram escritos para agradar o mais possível às pessoas. Não quis que fosse um disco supervirtuoso, mas sim um disco instrumental que agrade a muita gente e venda minimamente, mantendo um mínimo de virtuosismo e bom gosto. Não pretendi fazer um disco para ficar na prateleira, em que só uma elite reconhece a qualidade.
De onde veio a ideia de tocar ao vivo nos locais onde tem dado entrevistas de promoção? (Por ocasião desta entrevista, Fredo Mergner interpretou em guitarra portuguesa três temas de “À Sombra da Figueira” na redacção do PÚBLICO, acompanhado por Pedro de Faro, na guitarra.)
Em certa medida, é “marketing”. Mas o importante é, tendo um disco instrumental cá fora, conseguir construir a minha imagem como solista, como guitarrista. Procuro que as pessoas me vejam com o instrumento na mão, que me associem ao instrumento. E ao mesmo tempo mostrar que consigo tocar em qualquer lado e em qualquer situação. Sou um tocador de guitarra. De resto, estou a preparar uma banda para tocar comigo ao vivo. Com o Pedro de Faro, dois percussionistas, um baixista e um teclista.
* guitarrista dos Resistência, acabou de lançar a sua estreia a solo, “À Sombra da Figueira”


















