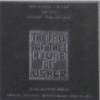Pop-Rock Quarta-Feira, 31.12.1991
OS MELHORES DO ANO
ELECTRÓNICA
O ANO QUE PASSOU FOI DE TRIUNFO PARA OS ELECTRÕES. A ELECTRICIDADE SEMPRE FOI UM BOM CIRCUITO DE INFORMAÇÃO. Os sinais não enganam: passado e futuro tocam-se e confundem-se. Na Europa, sobretudo, de novo se constrói a torre de Babel.
Delerium
Stone Tower
(Dossier)
br/>

Produto típico da alanegra dos pseudomagos que apostaram em car cabo das nossas cabeças, por dentro e por fora. Neste caso não há agressões psíquicas abaixo dos 2Hz ou acima das “frequências caninas”, nem grandes rituais de sangue provocados pelo rebentamento de tímpanos. Pelo contrário, embora na capa proliferem as habituais imagens de corpos em agonia, caveiras e arquitecturas de pesadelo, os Delerium, facção “ambiental” dos Front Line Assembly, enveredam pelas religiosidades obscuras, abrindo paisagens de sombra e labirintos por onde divindades pagãs aproveitam para se infiltrar. Longos mantras etno-demoníacos que incluem na versão CD cerca de meia hora extra de hipnose. Um tratado de necromancia que pode provocar habituação à paranoia. Para ouvir de noite, com cuidado.
Hans-Joachim Roedelius
Der Ohren Spiegel
(Multimood)

Dividido entre a devoção ao piano, a Erik Satie e Alban Berg e a nostalgia das explorações electrónicas de antanho realizadas com Dieter Moebius, nos Cluster, Roedelius consegue aqui o equilíbrio perfeito entre duas pulsões contraditórias, a simplicidade e o barroco. Exorcizado o espectro das teclas de marfim em “Piano Piano”, para piano solo, Roedelius revela-se como um arquitecto de sons visionário, ombreando com Brian Eno na construção de estruturas tímbricas e harmónicas (no seu caso bastante mais complexas que as do autor de “Discreet Music”) que parecem desafiar a gravidade. “Reflektorium”, o tema mais longo do CD, tem o esplendor, os reflexos matizados e o requinte de pormenor de um candelabro de cristal.
Holger Hiller
As Is
(Mute)

Antigo membro dos Palais Schaumburg, autor de óperas sobre “calças” e auditor atento de Stockhausen, Faust, Einstuerzende Neubauten e de música pop num rádio a pilhas mal sintonizado, Holger Hiller produz música dourada a partir de detritos e excrescências sonoras a partir de excertos de Wagner. Diverte-se a misturar pedaços de sinfonias, de ruídos, de vozes e melodias incertas no seu cadinho de alquimista louco – o “sampler”, máquina mágica onde nada se perde e tudo se transforma. À semelhança dos geniais “Ein Bundel Faulnis in der grube” e “Oben im Eck”, “As Is” é “como é”, um programa musical, na aparência sem sentimento, mas onde a cada segundo o som dispara em direcções surpreendentes, das refracções “dub” à pop do outro lado do espelho. O discurso da esquizofrenia tem a sua lógica própria.
Kraftwerk
The Mix
(EMI)

Ralf Florian e Florian Schneider não vão atrás da Europa, a Europa é que lhes segue no encalço. Os dois alemães vestiram de novo as fardas de humanoide, carregaram baterias, ligaram os interruptores do estúdio Kling Klang e procederam como cirurgiões-robot especializados, com bisturis laser e uma ironia não menos cortante. Operaram maravilhas de cirurgia plástica nos clássicos da “techno-pop” industrial gerados pela maquinaria do Rur e polidos no paraíso de cristais de quartzo e fibra óptica de “Silicon Valley”: “We Are The Robots”, “Computer Love”, “Autobahn”, “Radio Activity”, “Trans Europe Express” – binários e insinuantes como sempre, e agora mais dançáveis que nunca. Regresso em forma ao futuro.
O Yuki Conjugate
Peyote
(Multimood)

Alinhados com os Light In A Fat City, afilhados de Jon Hassell e das músicas do “quarto mindo”, atentos às pulsações das culturas e dos mitos africanod e aborígenes, os O Yuki Conjugate desenham os contornos de um “realismo fantástico” que povoam de monstros projectados pela tecnologia electrónica. “Peyote”, como o anterior “Into Dark Water”, sendo mais um produto representativo da grande síntese do final do milénio, tendência “novo primitivismo”, avança por alamedas laterais, por via da alucinação, abolidas as noções tradicionais do espaço e do tempo. Música intuitiva, elemental, naturalista por essência e ambígua na condição de ícone da nova idade das trevas. Se “Into Dark Water” era a escuridão do fundo oceânico, “Peyote” é a miragem do deserto, a vibração desfocada, o retorno ao incriado.
WORLD
1991 foi sobretudo o ano de reedições em CD, de parte de discografias importantes – dos Planxty, Chieftains, Malicorne, Milladoiro e Steeleye Span. Tudo importações, claro. Outras “novidades” chegaram ao mercado nacional pelo menos com um ano de atraso, razão por que não puderam constar da presente lista.
Ad Vielle Que Pourra
Come What May
(Green Linnet)

Originários do Canadá, os Ad Vielle Que Pourra pretendem “unir o caldeirão de influências americano às raízes europeias”. Aliam o virtuosismo, ecletismo e magia, um pouco à maneira de uns Blowzabella mais extrovertidos. Há na música dos Ad Vielle uma energia contagiante, resultante da correcta assimilação e articulação da tradição francesa, e em particular da bretã, com a música de realejo, as valsas palacianas ou a canção de cabaré, em combinações instrumentais, ora frenéticas, ora bizarras, da bombarda e da gaita-de-foles flamenga, da sanfona, do violino, do acordeão e do bouzouki… Música para “viajar pelo mundo ou pelo interior de nós próprios”.
Catherine-Ann MacPhee
Chi Mi’n Geamhradh
(Green Trax)
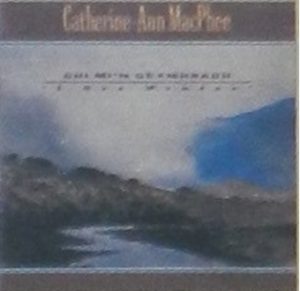
Catherine canta em gaélico as habituais histórias da história escocesa, às quais e maistura das brumas célticas com as névoas não menos poéticas do “whisky” retira um pouco de credibilidade. Mas a falta de rigor científico e o tom pueril de canções como aquela que narra os desgostos amorosos de “um jovem vendo a rapariga que ama abandoná-lo, para casar com outro, o que lhe parte o coração [ao jovem, não ao outro]” são compensados pela excelência do canto. Entre um acompanhamento instrumental invulgar, a harpa cintilante de Savourna Stevenson garante por si só o sortilégio.
Hamish Moore & Dick Lee
The Bees Knees
(Green Linnet)

Caminho difícil e excitante, o da fusão das sonoridades tradicionais com o jazz. John Surman (“Westering Home”), Ken Hyder’s Talisker ou Jan Garbarek (“I Took up the Runes”” e “Rosensfolle”, este com Agnes Buen Garnas), do lado do jazz, já o haviam tentado com sucesso. Do “outro lado”, registe-se a fase inicial dos Gwendal, de “À vos Désirs”, os suecos Filarfolket, em “Smuggel”, os ex-jugoslavos Zsarátnok, em “Holdudvar”, June Tabor em “Some Other Time, Savourna Stevenson, em “Tweed Journey”, e aproximações pontuais da malograda Sandy Denny. “The Bees Knees” vive do diálogo / confrontação entre a gaita-de-foles e o “tin whistle” tradicionais de Hamish Moore, e os saxofones e clarinete-baixo de Dick Lee. Os puristas poderão franzir as sobrancelhas. Mas as pulsações do coração e as pernas nem por isso deixarão de acelerar.
Les Nouvelles Polyphonies Corses Avec Hector Zazou
Les Nouvelles Polyphonies Corses
(Philips)

Sensível ao poder do eixo que liga a pedra e a terra ao céu, Hector Zazou, num exercício que acaba por se assumir como ponto culminante e corolário lógico de “Géographies” e “Géologies”, soube manter os computadores à distância exacta da religiosidade e do arrebatamento do canto corso, deixando-lhes o espaço necessário à oração e à elevação. Os sons electrónicos ou da profusa instrumentação utilizada neste projecto não interferem com a energia do canto, antes lhe servem de alavanca de apoio, facilitando-lhe a ascese e constituindo um estímulo adicional ao discurso da alma. A constelação de “figuras” presentes – Ryuchi Sakamoto, Ivo Papasov, John Cale, Steve Shehan, Manu Dibango, Richard Horowitz, Jon Hassell – participa e assiste fascinada à cerimónia.
Ron Kavana
Home Fire
(Special Delivery)

Permanecendo de certo modo à margem do círculo “folk” britânico tradicional, Ron Kavana é um rebelde apostado em dotar a música irlandesa de uma carga política que tende, por vezes, a ser menorizada, em detrimemto do seu lado poético-mitológico. “Home Fire” recusa o perfeccionismo de estúdio que, nos últimos anos, tem vindo a retirar muito da espontaneidade que caracterizou o grande “boom” da década de 70, traduzido no aparecimento de grupos como os Planxty, Bothy Band, De Danann e Five Hand Reel, entre outros. Solução de compromisso entre as sonoridades mais marcadamente célticas das danças e dos instrumentais, e a importância dada às palavras, nas baladas de tom intervencionista. Mil vezes mais eficaz que Billy Bragg e infinitamente mais rico em termos musicais.