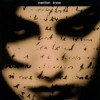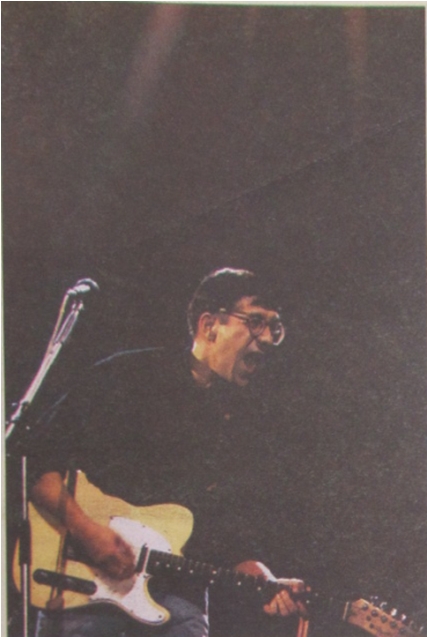Pop Rock >> Quarta-Feira, 22.07.1992
DA GÉNESE À REVELAÇÃO
Os Genesis merecem o máximo respeito e consideração. Por tudo o que de bom fizeram pela música rock, pela beleza com que aqueceram os nossos corações. Devemos agradecer-lhes e paga-lhes. Mas não namesma moeda, que essa eles não aceitam. Dizem que já não sabem dançar.
Vêm a Portugal pela segunda vez, mas já não são a mesma banda que eram em 1975, quando estiveram em Cascais. Nessa altura, quem os viu e ouviu jamais os esquecerá. Dezassete anos volvidos, os Genesis regressam, desta vez ao estádio de Alvalade, num espectáculo que se diz ser portentoso. Não já o espectáculo poético, mas de ostentação e de números. “666 [o número da besta do Apocalipse] is no longer alone”, como diz o texto de “Supper’s ready”, eis a revelação.
Hoje, a palavra “Genesis” não passa de um carimbo ferrado na careca da banda de Phil Collins. É esta a banda que vai estar hoje à noite no Estádio de Alvalade – uma máquina de facturar implacável dirigida por u homem de negócios que canta, toca bateria e tem como principal virtude parecer “um gajo porreiro”.
Mas não foi sempre assim e é importante recordar o passado e a importância que de facto teve uma das bandas mais originais da primeira metade dos anos 70. Ao lado dos Van Der Graaf Generator, King Crimsom, Yes e Gentle Giant, eles foram uma das entidades inteligentes da “música progressiva” que vingou em Inglaterra até ao dia em que uns rapazes de cabeça rapada e alfinetes espetados na pele decidiram destruir aquilo que com tanto amor e carinho tinha sido edificado. Sim, não se estejam a rir, com muito amor e carinho, bom gosto e imaginação. Há lá coisa mais bela que ver alguém como Peter Gabriel vestido de malmequer ou de monstro verde com borbulhas? É difícil. Só talvez Elton John vestido de freira.
Ser Progressivo
Eram assim os Genesis, nessa época esplendorosa em que tudo era permitido, mesmo as calças de boca de sino e as camisas às flores de colarinho gigante. Os “progressivos” pretendiam dotar a música popular da majestade e integridade da “clássica”. E por que não? Era tudo uma questão de utilizar números ímpares no compasso, estender as composições até aos 30 minutos e fazer aparecer na ficha técnica um “mellotron” e um sintetizador (Moog para os mais sinfónicos, A. R. P. para os “vanguardistas” e VCS3 para os pobrezinhos), ou vários, quantos mais melhor, para dar uma imagem mais eficaz de complexidade. Também era conveniente ter lido Tolkien ou Lewis Carroll, se se pretendia ser “soft”, ou H. P. Lovecraft, se a opção incidia no “hard”. E principalmente gravar para alguma destas quatro editoras: Island, Harvest, Vertigo e Charisma. A Virgin viria depois devorá-las todas, mas antes do repasto, havia uma saudável competição, a ver quem fazia capas mais desdobráveis e faixas de maior duração.
Antes de ser comprada pelo futuro bilionário Richard Bronson, a Charisma representava na perfeição o imaginário e os ideais de quantos viam no rock o ponto culminante da arte musical desde que se seguisse à risca a máxima “quanto mais complicado melhor”. Era neste selo que militavam os Genesis, passado o estágio inicial na Decca, com “From Genesis To Revelation”. O logotipo da editora – uma imagem do chapeleiro maluco retirada de “Alice no País das Maravilhas” – não podia ter sido melhor escolhido, parecendo feito de propósito para as histórias e imagens que a banda então liderada por Peter Gabriel tinha para apresentar.
Delírios
História que se conta em cinco capítulos magistrais correspondentes às obras “Trespass”, “Nursery Crime”, “Foxtrot”, “Selling England by the Pound” e o duplo “The Lamb Lies Down on Broadway”, tantos quantos os Genesis gravaram antes da saída do arcanjo. Consumado o abandono de Peter Gabriel, Phil Collins ficou com o terreno livre e aproveitou a deixa, desviando o grupo para objectivos bem mais práticos que os delírios surrealistas do antigo vocalista. Para a “Phil Collins Band”, que era como devia ter passado a chamar-se a banda, a única finalidade passaria a ser a angariação de divisas, operação na qual, diga-se de passagem, foi bastante bem sucedida. A participação de Phil Collins em tudo o que é “concerto de solidariedade” trataria de o pôr em paz com a sua consciência. São assim as almas boas de gente de bem.
Cumpriu-se deste modo a profecia enunciada no título do primeiro álbum, “From Genesis To Revelation” e a “revelação” foi de ordem divina. Explicada no novo “clip” da banda, “Jesus He knows me”, canção do último álbum, “We Can’t Dance”, em que Deus revela, a um Phil Collins desopilante na figura de evangelista da TV bom pai de família, o segredo, o maná dos dólares que tombam do céu.
Curiosamente, após o abandono de Peter Gabriel e, dois álbuns mais tarde, de Steve Hackett, seria um outro elemento da banda original, apenas presente em “Trespass”, Anthony Philips, o portador do espírito original dos Genesis. De longe o mais prolífico de todos os elementos que passaram pelo grupo, Philips assinou álbuns como “The Geese and the Ghost”, “Wide after the present”, “Antiques”, “A Batch at the Tables” ou “Slow Dance” que em nada diferem da filosofia e dos ambientes musicais da fase inicial do quinteto.

Fábulas Perversas
Aos Genesis se deve, além da revolução no vestuário, o terem trazido o teatro para o rock. Claro que Dacid Bowie já era um Major Tom em odisseias no espaço, e depois Ziggy e Alladin Sane e muitos outros. E os Velvet Underground já há algum tempo que davam e levavam chicotadas no cabaré da morte que era a “Exploding Plastic Inevitable”, criada por Andy Warhol. Mas, em qualquer dos casos, explorava-se o lado da decadência e do excesso, enquanto os Genesis e o seu actor principal, Peter Gabriel, privilegiavam e encenavam o imaginário vitoriano inglês, a um tempo sedutor e cruel. Nenhum álbum se aproxima tanto deste conceito como “Nursery Crime”, em faixas como “The Musica Box”, “The Return of the giant Hogweed” ou “The fountain of Salmacis”, repleta de anjos e demónios, hermafroditas e espíritos barbudos, gigantes e arlequins. Peter Gabriel inventa e incarna novas personagens chamadas Henry Hamilton-Smythe ou Cynthia Jane de Blaise-William, em fábulas perversas, como eram as aventuras de Alice.
Todo um universo que se esfumou quando Peter Gabriel se decidiu pelo rompimento e por uma versão mais “realista” para os seus devaneios poético-musicais. “A Trick of the Tail” e “Wind and Wuthering” ainda procuram uma solução de compromisso, com Phil Collins a procurar imitar as entoações vocais de Gabriel, o que lhe valeu do produtor Tony Stratton-Smith o seguinte comentário: “Soa mais a Peter Gabriel que o próprio Peter Gabriel.” A parte “séria” ficou durante alguns tempos reservada para a banda de jazz-rock Brand X, que serviu para o músico se exercitar na bateria, já que nos Genesis passou a assumir-se totalmente como cantor.

Pode dizer-se que os antigos admiradores dos Genesis optaram por seguir o percurso a solo de Peter Gabriel, em vez de condescenderem com as proezas miméticas do novo vocalista. Opção certa, recompensada sobretudo pelos quatro primeiros discos a solo, qualquer deles intitulado simplesmente “Peter Gabriel”, nos quais participaram, entre outros, Brian Eno e Robert Fripp. A seguir seria a viagem sem retorno até às “músicas do mundo”, concretizada na banda sonora de “Passion”, realizada por Scorcese, no envolvimento nos festivais “WOMAD” e na criação da editora “Real World”, tornada rapidamente numa das mais prestigiadas no campo da “world music”.
Jesus Ajuda
Do outro lado, Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks prosseguiam sem desfalecimentos na senda do êxito à escala planetária, acumulando discos de ouro e platina e atraindo aos seus espectáculos um número sempre crescente de público, à medida que iam simplificando a forma e a mensagem da sua música. A partir de certa altura, Phil Collins deixou mesmo de sentir necessidade de gravar discos a solo (gravou quatro: “Face Value”, “Hello I must be Going”, “No Jacket Required” e “But Seriously”), já que os Genesis se tinham transformado no seu veículo pessoal.
“… And The There Were Three”, “Duke”, “Abacab”, “Three Sides Live”, “Genesis”, “Invisible Touch” e “We Can’t Dance” foram filões de uma mina que parece inesgotável. E cada vez mais, à medida que Phil Collins foi carregando na tecla do romantismo de pacotilha, de efeito certo quando se trata de apelar à faceta mais primária das multidões. Ainda aqui, o já referido vídeo “Jesus He knows me” funciona como cartada da hipocrisia levada ao grau extremo, a fingir de inteligente. Nele, os Genesis pretendem dar a imagem do artista que está para além das vãs preocupações materiais (por isso o “clip” insiste em mostrar precisamente o oposto, é a ironia, topam?), que pode brincar com o estatuto próprio porque chegou àquele ponto em que o dinheiro não passa de uma abstracção, de algo distante que jamais conseguirá abalar a integridade e apagar a chama da criação. Na realidade, o que eles querem dizer é: “Venha mais!”
Vamos todos a Alvalade fazer-lhes a vontade.

———
CAIXA
———
OS CINCO MAGNÍFICOS
TRESPASS (1970)
Príncipes e princesas à janela do castelo. O álbum medieval dos Genesis, a que não é alheia a presença de Anthony Phillips, cuja temática de grande parte dos seus álbuns a solo confirmaria esta tendência. Disco de contrastes, suave em “Visions of angels” e “Dusk”, violento, à beira da histeria, em “The Knife”, rasgado pela guitarra eléctrica de Phillips. “Looking for someone”, um dos primeiros clássicos da banda, revela as enormes potencialidades expressivas do vocalista, aqui ainda preso à imagem angelical.
NURSERY CRIME (1971)
Primeira obra-prima, desde a gravura da capa – uma partida de críquete jogada com cabeças humanas, numa paisagem geométrica e vitoriana em “trompe l’oeil”, sobre a qual estão poisadas moscas em tamanho real – atá às canções insólitas sobre gigantes vegetais e amores de hermafroditas. “The musical box” é uma das melhores canções de toda a discografia dos Genesis, narrando uma bizarria à volta de uma caixa de música de onde brota uma terrível entidade. “Harold the barrel” poderia ser um quadro de Ensor. E Phil Collins deveria voltar a ouvir pelo menos dois temas, “For absent friends” e “Harlequin”, para aprender como se constrói uma balada. Sem pieguice.
“FOXTROT” (1972)
Gravado a seguir ao disco ao vivo “Genesis Live”, “Foxtrot” é por muitos considerado o melhor álbum da banda. O fabuloso “tour de force” que é “Supper’s ready”, viagem de ácido dividida em sete partes, com bilhete de ida e volta até ao inferno – e o inferno de Gabriel está povoado de criaturas semelhantes às de um Lewis Carroll numa “bad trip” -, em que Peter Gabriel dá um “show” vocal de vinte e tal minutos, desdobrando-se pelos registos mais incríveis, da marioneta, às afectações “cockney” e a toda a espécie de gritos, murmúrios e onomatopeias, esconde alguns desequilíbrios histriónicos do primeiro lado, notórios em “Watcher of the skies” ou “Time table”. “Get ‘em out by Friday” estreia os Genesis na sátira social.
“SELLING ENGLAND BY THE POUND” (1973)
Ao contrário do álbum anterior, aqui tudo é equilíbrio e sentido de proporção. Banks, Hackett, Rutherford e Collins têm espaço alargado para mostrar que os Genesis não eram só Peter Gabriel, com destaque para Tony Banks, um teclista notável que, na segunda fase da banda, viria a ser completamente subaproveitado, e Steve Hackett, um dos melhores guitarristas ingleses da escola progressiva, então ao nível de Robert Fripp, dos King Crimson e Steve Howe, dos Yes. Uma das melhores, senão mesmo a melhor de todas as interpretações vocais da sua carreira, consegue-a Peter Gabriel em “The battle of Epping Forest”, um autêntico solo de música e teatro, em que praticamente cada frase do poema é cantada de modo diferente e que colocaria o vocalista ao lado de Peter Hammill, como um dos maiores intérpretes dessa época.
THE LAMB LIES DOWN ON BROADWAY (1974)
O álbum duplo da discórdia que levou à separação de Peter Gabriel dos restantes elementos dos Genesis. Considerado como que um disco a solo do vocalista, de tal modo a sua personalidade se impôs na feitura desta obra, “The Lamb” corta de forma abrupta com o estilo e a imagética habituais da banda, narrando a iniciação de um jovem porto-riquenho, Rael, perdido no meio do pesadelo americano e no seu próprio labirinto interior. Como em “Supper’s ready” é possível descortinar, desta feita na sequência total, as várias fases de uma “viagem de ácido”, neste caso, decididamente uma “má viagem”, até ao centro da paranoia. Chegados a este ponto, os restantes Genesis assustaram-se e devem ter feito sinal de “stop” ao antigo arcanjo, aqui transformado em demónio. Os trabalhos posteriores de Peter Gabriel confirmariam o caminho que este viria a seguir, feito de transformações sucessivas (o rosto aparece representado de forma sistemática nas capas, sujeito a diversas deformações), num percurso semelhante ao de Bowie, assumido embora na direcção de um certo tribalismo que, em última análise, viria a desembocar no território infinito da “world music”.