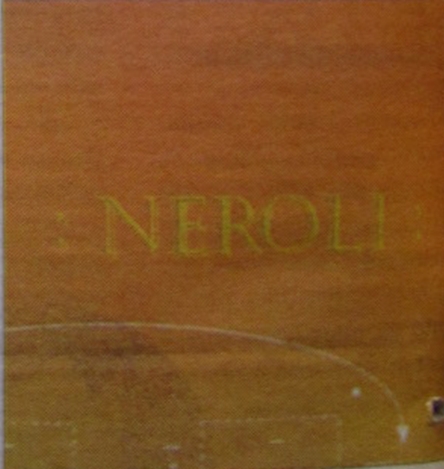pop rock >> quarta-feira, 30.06.1993
REVOLUÇÃO DO CASACO ESTÁ NA ORDEM DO DIA
Em dez anos, entre 1974 e 1984, a Banda do Casaco gravou sete álbuns de originais. A música portuguesa nem antes nem depois teve alguém que conseguisse fazer o que eles fizeram: juntar as raízes tradicionais, o humor anarquizante e a inovação formal. De “Benefício dos Vendidos no Reino dos Bonifácios” ao derradeiro “Banda do Casaco e Ti Chitas”, passando por aquele que foi um dos discos verdadeiramente revolucionários da chamada “música popular portuguesa” – “Coisas do Arco da Velha” -, sempre fizeram questão em ser diferentes. Volvidos quase vinte anos, cinco dos seus principais músicos reuniram-se para falar da reedição próxima, em compacto, da obra completa. E, porque não, de futuras guerrilhas colectivas.
Nuno Rodrigues, António Pinho, Carlos Zíngaro, Celso de Carvalho e Né Ladeiras aceitaram

reunir-se no PÚBLICO para falarem do passado e do futuro da Banda do Casaco. Entre o projecto de reedição de todos os álbuns e a hipótese de gravação de versões “hard core” dos Resistência, nada escapou ao comentário jocoso e a ao gosto de chocar. Ontem como hoje, as pessoas que passaram pelo grupo ocupam um lugar à parte. Na música e na maneira de ser. Talvez por isso se possa entender agora melhor, à distância, aquilo que durante dez anos andaram a tocar e a dizer.
PÚBLICO – Afinal, como é que a Banda do Casaco começou?
ANTÓNIO PINHO – O Nuno quis falar comigo um dia, conhecia-me de nome (se me conhecesse pessoalmente, nunca me teria telefonado…) para me fazer uma proposta de trabalho. Reunimo-nos na casa dele, foi assim que nasceu o primeiro disco. Depois, quando tivemos esse disco na mão, pensámos: “Isto agora não vale nada se não vier alguém para tocar decentemente.” Ele lembrou-se do Zíngaro e do Celso, eu lembrei-me de pessoas que tinham trabalhado comigo na Filarmónica Fraude.
P. – Houve, no início do projecto, alguma orientação pré-definida?
A.P. – Na altura, a única coisa em que pensávamos era em fazer música. Estávamos todos descontentes com o que se fazia na altura (aliás, pessoalmente, continuo descontente com o que se passa hoje). Quisemos fazer coisas que chocassem um bocado com o que se fazia na altura.
P. – Chocara, ao ponto de serem completamente diferentes de tudo o que se fizera antes na música portuguesa. Mas o mais curioso é que não tiveram sucessores…
A.P. – Não estávamos preocupados se os discos se vendiam, se eram ou não promovidos… Apenas nos interessava o gozo que dava. Às vezes, pergunto-me se hoje, se quiséssemos fazer alguma coisa, se esse espírito conseguiria vir ao de cima outra vez. Só experimentando… Aliás, quando vínhamos a chegar aqui ao jornal, estivemos já a pensar num projecto de fazermos um álbum, não sabemos ainda se triplo ou quádrupulo, de homenagem aos Resistência, com originais deles em versões “hard core”. [risos]
CARLOS ZÍNGARO – O projecto apareceu numa latura em que predominava a canção de intervenção, profundamente politizada, punho erguido, etc. O que se fazia na Banda do Casaco foi encarado por muitos, e de forma errada, como um derivativo, não sério, dessa vertente.
P. – Que senido faz, para vocês, passados 20 anos, uma possível reedição da obra discográfica da Banda do Casaco?
NUNO RODRIGUES – Há pouco, comentava-se que não tinha havido sucessão para a Banda do Casaco. Ora o que acontece é que a maior parte do que fizemos há 20 anos continua totalmente actual, precisamente por causa dessa ausência de seguidores. Houve críticos que disseram que nós éramos uma escola mas nunca se falou do nome dos alunos. Ficámos sem saber se alguém aprendeu alguma coisa. Depois podemos cair num dos paradoxos da nossa riquíssima indústria discográfica, que, ao contrário dos outros países, não aproveitou o “boom” do CD. Não há reedições. Se houver uma reedição da nossa obra, gostaríamos que ela fosse bem feita, com as capas originais e não com um “lettering” de computador qualquer, em várias cores. Até porque as capas são importantes na maneira como reflectiam o comportamento da banda. Quando aparecemos seminus, a apalpar o rabo uns aos outros…
A.P. – … já estávamos a prenunciar o problema da sida. [risos] Mas não é estranho que se reedite a Banda do Casaco. Estranho é que ela não se encontre no mercado permanentemente, desde que desapareceu. Mas tem que se fazer isto de uma forma cuidada. Já ouvi dizer que algumas das editoras que detêm os direitos dos discos [entre elas, a Polygram e EMI-Valentim de Carvaljo] não fizeram arquivos de capas, duvido mesmo que algumas delas tenham arquivos de fitas… Isto mostra como, na ind´+ustria discográfica portuguesa, é maltratado o fundo de catálogo. Com o advento do CD, têm-se cometido as maiores barbaridades. Se as editoras se vão permitir fazer essas reedições à nossa revelia, com as capas abandalhadas, só temos uma defesa: é considerarmos isso publicamente uma vigarice e denunciá.la.
P. – Será possível acontecer a ressurreição da Banda do Casaco?
A.P. – Essas coisas não se podem programar. É preciso ter muita cautela, estamos no ano dos dinossauros, é a Faculdade de Ciências, o “Jurassic Park” e o Spielberg… Não me quero envolver nesta molhada e ouvir dizer “Olha, lá v~em aqueles dinossauros outra vez”. Vinte anos na música equivalem aos 60 milhões de anos dos dinossauros. Mas tenho a certeza de que as cinco pessoas que estão aqui eram capazes de se juntar e de fazer, de novo, alguma coisa verdadeiramente revolucionária.
P. – Só com as mesmas pessoas? A banda sempre teve a fama de elitista…
A.P. – Era reservado o direito de admissão.
Tácticas De Choque
P. – Enquanto durou, a Banda do Casaco teve arte e engenho para chocar as pessoas. Não receiam que, passados todos estes anos, essa componente passe despercebida ou que seja encarada como mera curiosidade, na obra discográfica?
N.R. – Sociologicamente, este país é uma aberração, o comportamento das pessoas é aberrante. Há 20 anos, só havia ou pirosos ou revolucionários. Agora, há os grupos que enchem estádios e os pirosos. É uma aberração. Confunde-se os grupos de sucesso com os representantes da boa música portuguesa. Por isso, brincávamos há bocado com os Resistência, um mau exemplo daquilo que pode ser feito em qualquer sítio do mundo.
A.P. – Eu tiro o chapéu e aplaudo. O que me parece errado é que a crítica deste país embarque nisto. As pessoas embarcaram como se aquilo viesse mudar alguma coisa na música portuguesa. Há um bom comportamento instituído na moderna música portuguesa que me chateia um bocado. Se calhar, a reedição da Banda do Casaco, se fosse feita com grandes parangonas e campanhas de televisão, com os vídeos que fizemos, teria o mesmo resultado. Os vídeos ainda hoje iriam chocar muita gente… Lembro-me de uma vez, na televisão, em que “matámos” o Tó Pinheiro da Silva, que fazia o papel do sindicalista, e ele permaneceu “morto” durante toda a entrevista. Se fosse a Sinead O’ Connor a cantar tradicionais da Irlanda de cabelo rapado, com umas botas “punk”, a crítica aplaudiria, pela irreverência. O português não pode fazer isso porque somos um país de brandos costumes.
N.R. – Na altura, as pessoas pensavam que éramos comunistas. Hoje, o grave na nossa sociedade é que as pessoas não se chocam – e porquê? Porque estão demasiado evoluídas ao ponto de não se chocarem? Ou porque não têm bases nenhumas para se chocarem? Penso que seja isto, que as pessoas têm hoje menos bases. Uma das minhas filhas tem 13 anos. Não posso ligar a televisão, não por causa dos filmes pornográficos mas por causa dos atrasados mentais que lá aparecem. Por exemplo, uma imagem da Assembleia [da República]: o que é que eu vou dizer? Meu filho, tenta estudar para te tornares um burgesso como aquele deputado, que está ali apenas por se ter inscrito na merda de um partido qualquer. Neste momento, vamos bater em quê? Não vale a pena andar aos tiros à direita e à esquerda, isto é, anarquicamente.

DISCOGRAFIA
1974 – Do Benefício dos Vendidos no Reino dos Bonifácios *
1976 – Coisas do Arco da Velha *
1977 – Hoje Há Conquilhas, Amanhã Não Sabemos **
1978 – Contos da Barbearia ***
1981 – No Jardim da Celeste ***
1982 – Também Eu ***
1984 – Banda do Casaco e Ti Chitas ****
* Direitos da Polygram
** Direitos de Nuno Rodrigues e António Pinho
*** Direitos da EMI-Valentim de Carvalho
**** Direitos da CNM